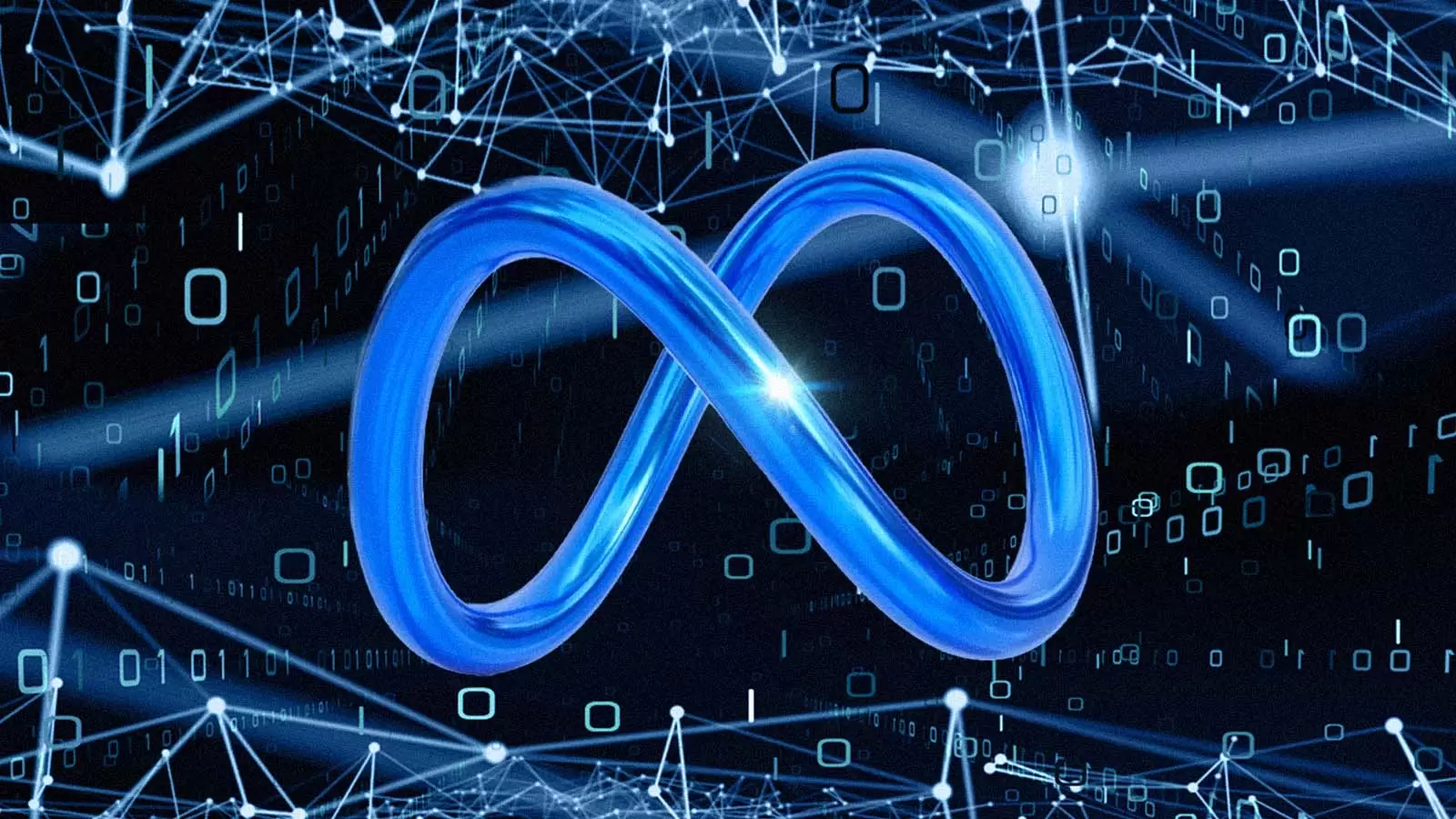5 perguntas para Omari Souza, designer e educador
Em seu livro "Design contra o racismo", Souza defende que o design precisa ir além da estética e repensar seu impacto social

O designer e educador Omari Souza concebeu seu novo livro, "Design Against Racism: Creating Work That Transforms Communities" (Design contra o racismo: criando trabalhos que transformam comunidades, em tradução livre), muito antes de a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, começar sua campanha para demonizar os princípios de diversidade, equidade e inclusão.
Mas as ideias que o livro aborda não são uma reação a um momento específico; são mais profundas e tocam o cerne dos desafios e das possibilidades do design.
Norte-americano de primeira geração, com ascendência jamaicana, ele nasceu e foi criado no Bronx, em Nova York. Atualmente, leciona na Universidade do Norte do Texas, em Denton.
No livro, Souza desafia estudantes e profissionais a repensarem as consequências, a colaboração e o contexto de seus trabalhos, oferecendo novas ideias e argumentos sobre o verdadeiro propósito do design.
Fast Company – O livro é movido pela ideia de “design restaurativo”, que parece derivar – ou evoluir – do conceito de justiça restaurativa. Você pode explicar o que é justiça restaurativa?
Omari Souza – Justiça restaurativa é uma prática das ciências sociais que se concentra menos na punição e mais na cura comunitária. Ela parte de perguntas como: quem foi prejudicado? Quais são suas necessidades? De quem é a responsabilidade de atendê-las? Como reconstruir a confiança e relacionamentos para que todos possam seguir em frente?
A justiça restaurativa também parte da crença de que medidas punitivas perpetuam o dano, em vez de resolver o problema.
O design restaurativo é uma extensão dessa ideia. Ele nos convida a perguntar: os produtos, serviços ou artefatos que criamos causam algum tipo de dano às pessoas? E, se causam, como nós, designers, podemos reparar esse dano e restabelecer a confiança com os públicos afetados?
Fast Company – O livro chega em um momento de hostilidade em relação às iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Muitas empresas vêm abandonando esses programas e esse tipo de discurso. Você acha que o atual clima político e cultural torna a mensagem do livro mais difícil ou mais urgente?
Omari Souza – Acho que as duas coisas, por vários motivos. Comecei a escrever alguns anos antes do assassinato de George Floyd. Naquele período, várias empresas, organizações e figuras políticas estavam se comprometendo a ajudar a reparar danos históricos.
Achei que, quando o livro fosse lançado, talvez o tema já não parecesse tão urgente – havia tanto entusiasmo em torno do reconhecimento dessas questões. Mesmo assim, acreditava que seria importante publicar uma obra que contribuísse para esse diálogo dentro do design.
Às vezes, designers se colocam acima das pessoas para quem criam, em vez de criar com elas.
Mas, com a atual administração, parece que há retrocessos em relação aos avanços conquistados, e que trabalhos como este estão sendo cada vez mais atacados.
Como designer de UX e professor pesquisador, é muito difícil ensinar as pessoas a criar experiências de design sem falar sobre as diferentes necessidades dos diversos públicos. Por isso, é ainda mais importante que os professores encontrem maneiras de continuar ensinando essas habilidades.
Fast Company – Escutar, especialmente as vozes ignoradas ou marginalizadas, parece um tema central do design restaurativo – e do livro. Em determinado momento, você escreve que, se estiver projetando uma escola, deve conversar com os zeladores, não apenas com o diretor. Por quê?
Omari Souza – Muitas práticas criativas tradicionalmente funcionam de cima para baixo. Existe uma figura carismática e talentosa que desenvolve uma abordagem filosófica e outras pessoas passam a segui-la. Essa visão é construída no topo e depois desce, sendo aceita como norma.
Mas, se você conversar com o zelador e projetar a escola levando em conta o ponto de vista dele, dos alunos e também do diretor, pode acabar descobrindo inovações na experiência escolar que jamais teria encontrado se tivesse ouvido apenas o diretor.
Fast Company – Em certo ponto, você escreve: “todo mundo é designer; é uma habilidade humana inata”. Nas últimas décadas, a profissão parece ter insistido que designers são uma espécie especial de solucionadores de problemas. Mas, no livro, você fala muito sobre “codesign” e sua importância para o design restaurativo. Como é isso?
Omari Souza – Às vezes, designers se colocam acima das pessoas para quem criam, em vez de criar com elas. É muito difícil criar algo realmente eficaz para um público com o qual você não tem nenhuma conexão.
Um exercício que costumo propor aos meus alunos é mapear a experiência de ir ao banheiro em um show ou evento esportivo. Peço que descrevam os passos. Para os homens, são três ou quatro. Para as mulheres, entre oito e 30.
Depois, peço que as mulheres expliquem aos homens por que é tão mais complexo – o tamanho da fila, o espaço do box, o tipo de roupa, a bolsa, o ciclo menstrual, a presença de crianças e assim por diante.

Então pergunto aos homens: quem acha que conseguiria criar uma experiência de banheiro justa para as mulheres sem ouvir a opinião delas? Todos abaixam a mão.
Depois pergunto às mulheres: vocês acham que conseguiriam projetar uma experiência equitativa tanto para si mesmas quanto para os homens? A maioria mantém as mãos levantadas.
Mas acrescento uma condição: e se a mulher para quem vocês estão criando for trans? Ou tiver uma deficiência? Ou vier de outro país, onde o símbolo de banheiro é diferente ou a descarga funciona de outra forma? As mãos começam a baixar.
É uma forma de mostrar que, mesmo sendo designers formados e inteligentes, sem uma imersão nas culturas e experiências específicas das pessoas, não temos como entender os verdadeiros obstáculos que elas enfrentam.
Fast Company – No fim do livro, você fala sobre imaginar e construir futuros diferentes. Uma das críticas mais comuns às políticas de diversidade e inclusão é que elas olham demais para o passado e ficam presas a ele, em vez de projetar o futuro.
Omari Souza – Sempre que alguém diz que olhar para o passado é “demais”, geralmente quer dizer que é doloroso. Mas a restauração, ou a cura, nunca é confortável. Se você faz uma tatuagem ou quebra um braço, o processo de cicatrização é incômodo.
A cura é, por natureza, inconveniente. Mas a questão é: o que queremos? Se o dano continua se repetindo, é impossível reconstruir a confiança e avançar. Para imaginar um futuro melhor, é preciso perguntar: que ações precisamos tomar agora?
é muito difícil ensinar a criar experiências de design sem falar sobre as diferentes necessidades dos diversos públicos.
No livro, cito alguns exemplos de empresas que queriam estabelecer parcerias com comunidades específicas e, antes de começar, precisaram reconhecer o histórico de relações corporativas com essas comunidades.
Se o objetivo é encerrar as conversas sobre diversidade, equidade e inclusão, ou sobre opressão sistêmica, então o caminho é justamente enfrentá-las, reparar os danos e curar o que foi ferido. Só assim elas podem, de fato, terminar.
Alguns preferem “pular” a ferida e fingir que ela vai se curar sozinha, como se ignorar o problema o fizesse desaparecer. Mas desigualdade não é um arranhão: é mais parecido com a fome, ou com um osso quebrado. Não dá para simplesmente ignorar.