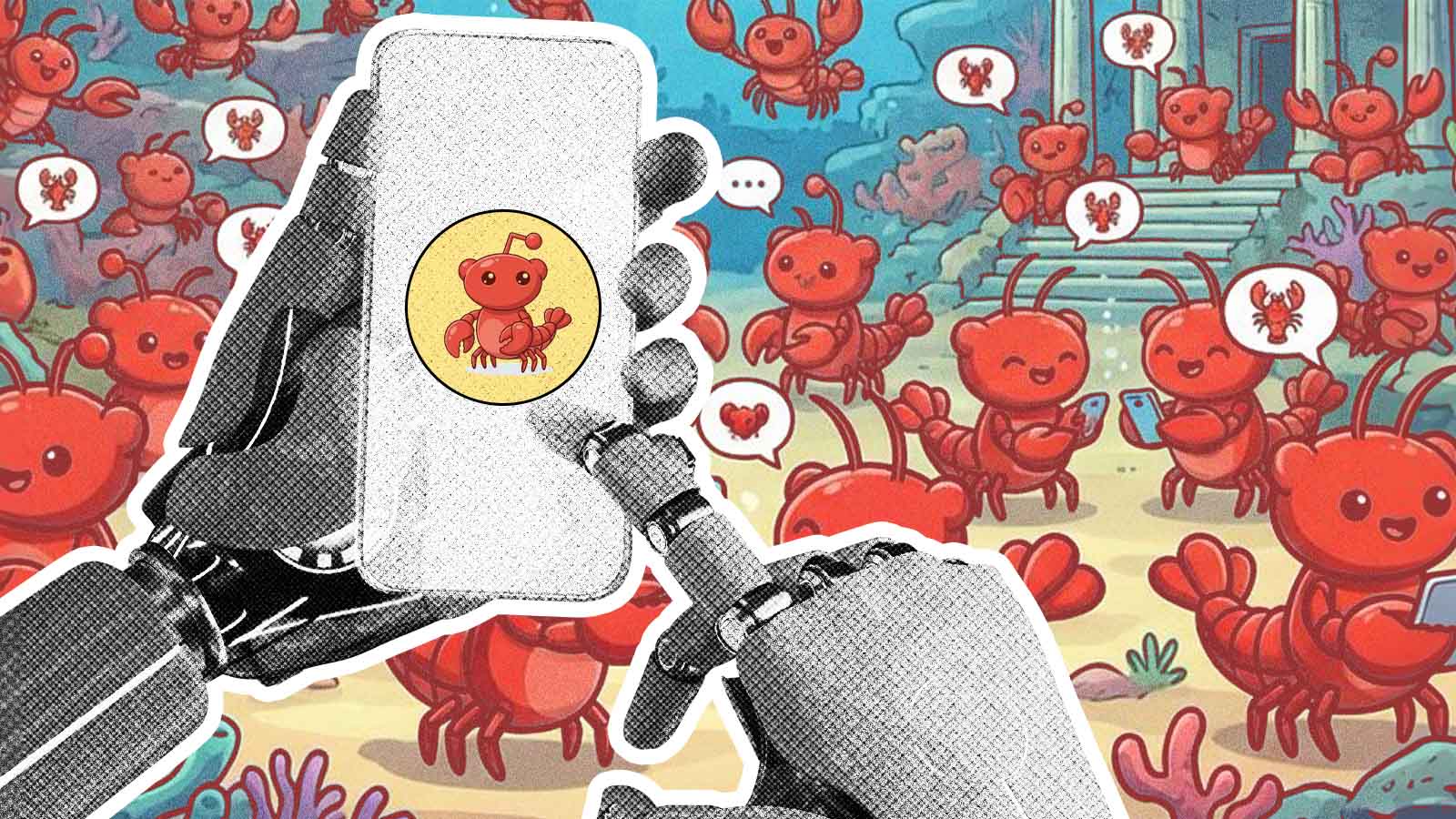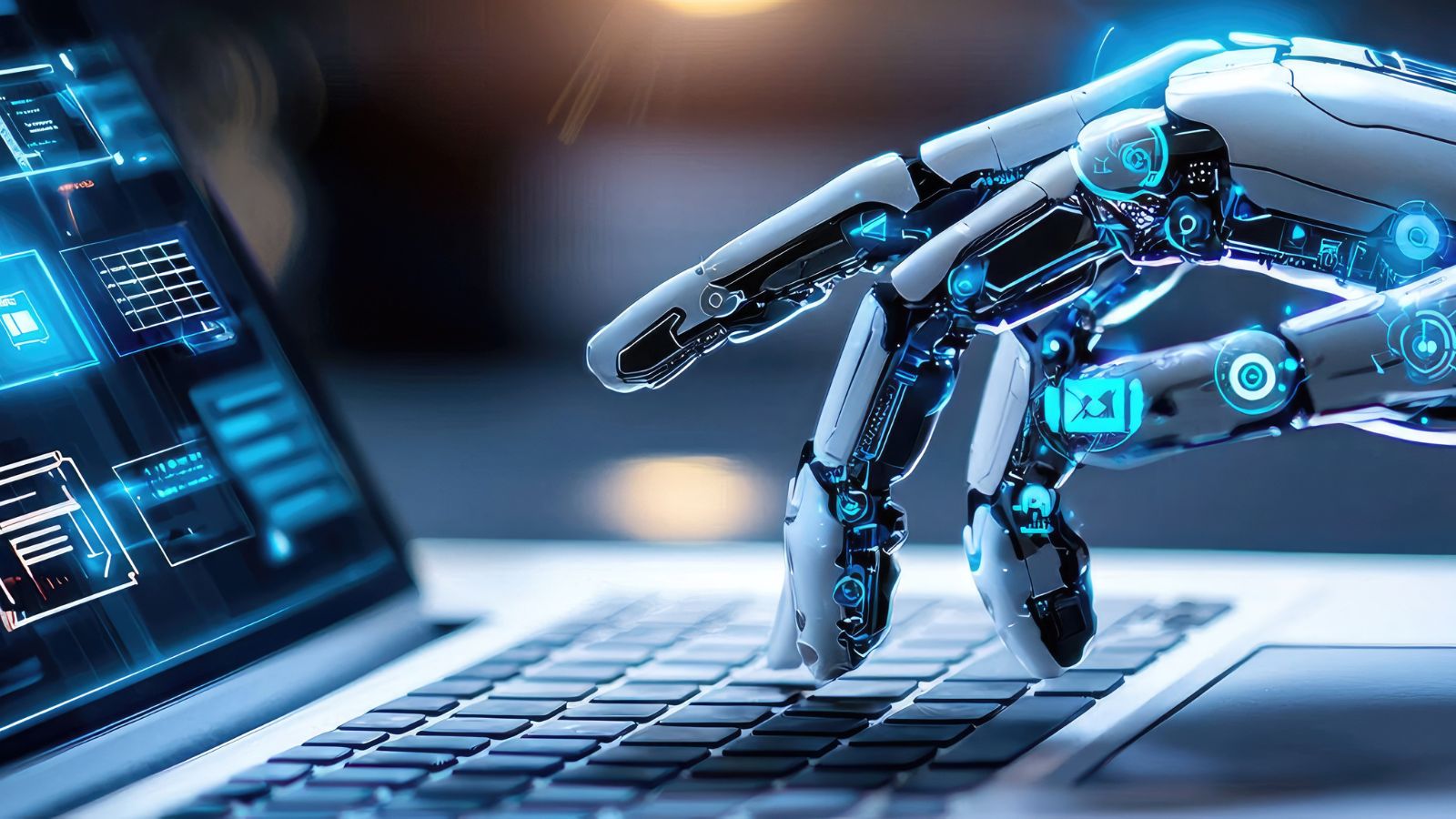Jaqueline Góes: uma biomédica dividida entre a pesquisa pública e a iniciativa privada

A vida de cientista e pesquisador não é fácil no Brasil. Especialmente para quem atua no serviço público. Mesmo entre os nomes que conquistaram reconhecimento acadêmico, existem dúvidas que, de tempos em tempos, surgem na mente de quem tem vínculo com uma agência de fomento. Uma das mais recorrentes é como resistir aos melhores salários oferecidos pelas instituições privadas.
É esse momento que vive a biomédica baiana Jaqueline Goes, que ficou conhecida de forma pouco comum para a ciência brasileira, graças a um trabalho que ecoou globalmente. Pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, Jaqueline integra um time de pesquisadoras do Instituto de Medicina Tropical dedicados ao mapeamento genômico de vírus transmitidos por mosquito, caso da febre amarela, chikungunya, zika e dengue.
Mas o que a tornou famosa foi o sequenciamento genético de outro tipo de vírus, o Sars-CoV-2. Sim, o da Covid-19. Realizado no final de fevereiro de 2020, o processo foi concluído por Jaqueline 24 horas depois da confirmação do primeiro caso no Brasil. O resultado não alcançou o índice desejado e novo sequenciamento foi feito, desta vez com um percentual satisfatório. O trabalho foi finalizado 48 horas depois do registro desse primeiro paciente. O tempo surpreendeu o mundo já que, em média, isso levaria 15 dias.
Foram diversas as homenagens, tanto no meio acadêmico quanto na esfera popular – de personagem da Turma da Mônica a uma Barbie feita à sua semelhança, de pele negra e jaleco branco (que não está à venda). “É muito surreal eu ser uma Barbie. Não consegui perceber bem o que isso significava até entender a questão da representatividade. E isso é muito forte”.
Hoje com 32 anos, Jaqueline tem contrato com uma agência de influenciadores, dá palestras, fala em podcasts ou lives e mantém ativo seu perfil no Instagram (@drajaquelinegoes), que é verificado e soma 172 mil seguidores. No Instagram, 75% dos seguidores são meninas e mulheres que querem desenvolver alguma atividade científica ou que buscam reconhecimento. “Recebo mensagens de mulheres formadas, com carreiras academicamente encaminhadas, mas que dizem que não conseguem sobreviver fazendo pesquisa”, conta.
DILEMA PROFISSIONAL E PESSOAL
Disso ela entende também. Até julho, está como bolsista da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), fazendo pós-doutorado com um trabalho que analisa padrões de transmissão de males causados por arbovírus (o tipo que contamina humanos pela picada de vetores como pernilongos).
O trabalho de sequenciamento genético do vírus da Covid-19 foi finalizado 48 horas após o registro do primeiro caso no Brasil.
Ao final do pós-doutorado, terá que decidir que rumo tomar. “O Brasil tem pesquisa de qualidade, mas não temos reconhecimento nem em termos profissionais, nem financeiros”, avalia. Durante um bom tempo de sua vida acadêmica, ela mesma teve que contar o dinheiro da bolsa para se manter.
Com a popularidade que conquistou, poderia entrar em um projeto especial de uma empresa privada ou participar de uma campanha publicitária? A resposta é não, devido ao vínculo com a Fapesp.
Fora do Brasil, a vida é outra. Em alguns países, o mestrando ou doutorando obtém o equivalente a uma carteira assinada, com direitos trabalhistas. “Aqui isso não existe. Ou você é professor universitário, que desenvolve pesquisa, ou é concursado ou contratado de um instituto específico para pesquisa”. Registro na carteira como cientista não há.
A dúvida de prosseguir na pesquisa pública envolve outras preocupações. “Quero viver, sou jovem, não tenho filhos. Há um mundo de possibilidades para mim”, afirma. Existem grupos que discutem esse tema no Brasil, mas, de todo modo, sem ter apoio adequado, as mulheres que trabalham na pesquisa científica tendem a atrasar planos de maternidade. Jaqueline gostaria de ter liberdade para fazer mais coisas. Por isso, vive um dilema e está em um momento de transição.
VIDA DE PESQUISADORA
Filha de uma técnica em enfermagem e pedagoga e de um engenheiro civil, Jaqueline não olhava para a ciência nos primeiros anos escolares em Salvador. Ela a via como algo masculino e para homens brancos mais velhos. No entanto, sempre quis trabalhar na área de saúde.
O primeiro vestibular que prestou foi para medicina, mas não foi aprovada. Na segunda tentativa, descobriu a biomedicina e foi onde se encontrou. Depois, foi convidada a participar de um processo seletivo da Fiocruz na Bahia. Assim se iniciou sua trajetória na pesquisa científica.
O fluxo no mundo da pesquisa é concatenado, explica. Se um aluno na iniciação científica demonstra potencial, provavelmente receberá uma oferta de mestrado. Foi o que aconteceu com ela. Na ocasião, a biomédica não tinha certeza se devia aceitar a proposta. Se fosse para o mercado, a remuneração seria melhor. Mas ela aceitou e foi aprovada em primeiro lugar.
“O Brasil tem pesquisa de qualidade, mas não temos reconhecimento nem em termos profissionais, nem financeiros.”
Por causa do mestrado, foi parar na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e na Faculdade de Medicina da cidade, vinculada à USP. Aos 22 anos, era a primeira vez que saía de casa. Por um tempo, viveu entre viagens para Salvador e o interior paulista. Concluída essa fase, decidiu dedicar mais quatro anos de sua vida para o doutorado. Entrou em um projeto com arboviroses na Bahia, o que a conduziu para a técnica de sequenciamento genético pela qual ficou conhecida, o sequenciamento por nanoporos.
Jaqueline fez um estágio de seis meses na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, onde se aprimorou na tecnologia de sequenciamento genético. Ao voltar ao Brasil, era uma das experts em sequenciamento por nanoporos. A técnica estava sendo empregada no projeto Zibra (Zika in Brazil), um trabalho itinerante de mapeamento genômico do vírus homônimo. O laboratório da Fiocruz da Bahia fazia parte do projeto.
O Zibra se expandiu e os pesquisadores foram convocados pelo Ministério da Saúde a sequenciar o genoma de outros vírus, como o da dengue. Jaqueline finalizava o doutorado quando soube que precisavam de uma pessoa para sequenciar o vírus da dengue em São Paulo. Em março de 2019, desembarcou na capital paulista e conheceu pessoalmente a médica Ester Sabino, que lideraria a equipe da USP que trabalhou no sequenciamento do vírus da Covid-19.
Ester ofereceu uma vaga de pós-doc no Instituto de Medicina Tropical e Jaqueline aceitou mais esse desafio. Já havia uma conexão entre a equipe da USP e a do Instituto Adolf Lutz, que se consolidou com a pesquisa de Jaqueline sobre a dengue. Foi essa longa jornada que levou a biomédica a se juntar ao time que acabou por sequenciar o novo coronavírus.
A BELEZA DO QUE FOI FEITO
Um dos pontos mais salientados nessa história é que o sequenciamento foi realizado em tempo recorde. Jaqueline diz que não foi recorde e observa que a intenção era completar o mapeamento genético em prazo menor. A maior beleza desse trabalho, para ela, é outra.
A agilidade do processo nasceu do preparo do time e também da antecipação. Com a experiência de pesquisas em epidemias (como a da Aids), Ester deu um alerta ao time em janeiro de 2020, quando ainda havia poucas informações a respeito do novo coronavírus que atingia a China. A médica sinalizou que ele chegaria ao Brasil.
Jaqueline fez um estágio na Universidade de Birmingham. Ao voltar ao Brasil, era uma das experts em sequenciamento genético por nanoporos.
Diante disso, as equipes se organizaram para a hora em que o primeiro caso fosse confirmado no país. “A beleza está no fato de termos conseguido dar uma resposta rápida para algo que era novo no mundo. Quando o Brasil estaria a frente de países desenvolvidos para trazer essa resposta?”, ressalta Jaqueline.
De acordo com a biomédica, o grande ganho está exatamente em evidenciar para os brasileiros e para o restante do planeta a qualidade da pesquisa nacional. “Isso sem apoio e sem recursos. Ficamos barganhando para poder comprar reagentes e, mesmo assim, conseguimos oferecer um serviço de qualidade e rápido”, lembra. Para ela, se o Brasil tivesse demonstrado consideração com o que faz a ciência por aqui, não teríamos passado pelo caos dos piores dias da pandemia.
E AINDA ERA CARNAVAL
Vale detalhar os dias anteriores ao sequenciamento genético do Sars-CoV-2. De julho a dezembro de 2019, Jaqueline treinava as alunas do Instituto de Medicina Tropical na técnica em que é expert. Por esse motivo, ela tinha um controle maior dos reagentes necessários no laboratório.
No final do ano, tirou suas primeiras férias longas em dez anos de atividade e foi para a Bahia. Em janeiro, os casos do novo coronavírus começaram a se expandir por outros países. Preocupada, Ester acionou Jaqueline. Era importante comprarem os reagentes. A biomédica antecipou sua volta e fez conexões com os pesquisadores da Inglaterra com os quais já trabalhavam.
O time inglês fez a sintetização dos primers (pequenos fragmentos de DNA) necessários para o sequenciamento, que são específicos do Sars-CoV-2. A equipe brasileira os recebeu em primeira mão. Ficou acertado com o Lutz que, ao receberem amostras positivas do vírus, as pesquisadoras da USP iriam ajudá-los no processo. O primeiro caso confirmado se deu na terça-feira de Carnaval e Jaqueline partiu para sequenciar o genoma.
Pegou os reagentes no laboratório da USP, ouviu orientações de Ester e se dirigiu para o Lutz. Passou a tarde e a noite trabalhando e o processo foi concluído de madrugada. Como os resultados não tinham sido os desejados, foram feitos ajustes, pois só tinham conseguido cobrir 76% do genoma. A segunda tentativa, na Quarta-feira de Cinzas, e já com a ajuda de mais pesquisadoras, atingiu 98%. Com o sequenciamento concluído, os colegas das universidades de Oxford, de Birmingham e de Edimburgo completaram o trabalho.
No dia em que os resultados dos times de pesquisadores brasileiros e ingleses foram apresentados, 28 de fevereiro, a Covid-19 já gerava manchetes impactantes. Ainda havia muita incerteza sobre o impacto da doença no mundo. No início de março de 2022, o monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins (EUA) apontou que já são mais de seis milhões as pessoas que morreram por causa do novo coronavírus. No Brasil, são mais de 660 mil mortes (com dados atualizados em abril).
A pandemia continua. E o certo é que ainda precisamos de muitos esforços de pesquisadores e médicos tão dedicados quanto Jaqueline, Ester e outras mulheres das ciências.
Lena Castellón é jornalista, corredora, escreve sobre marketing, vida digital, esportes e saúde.