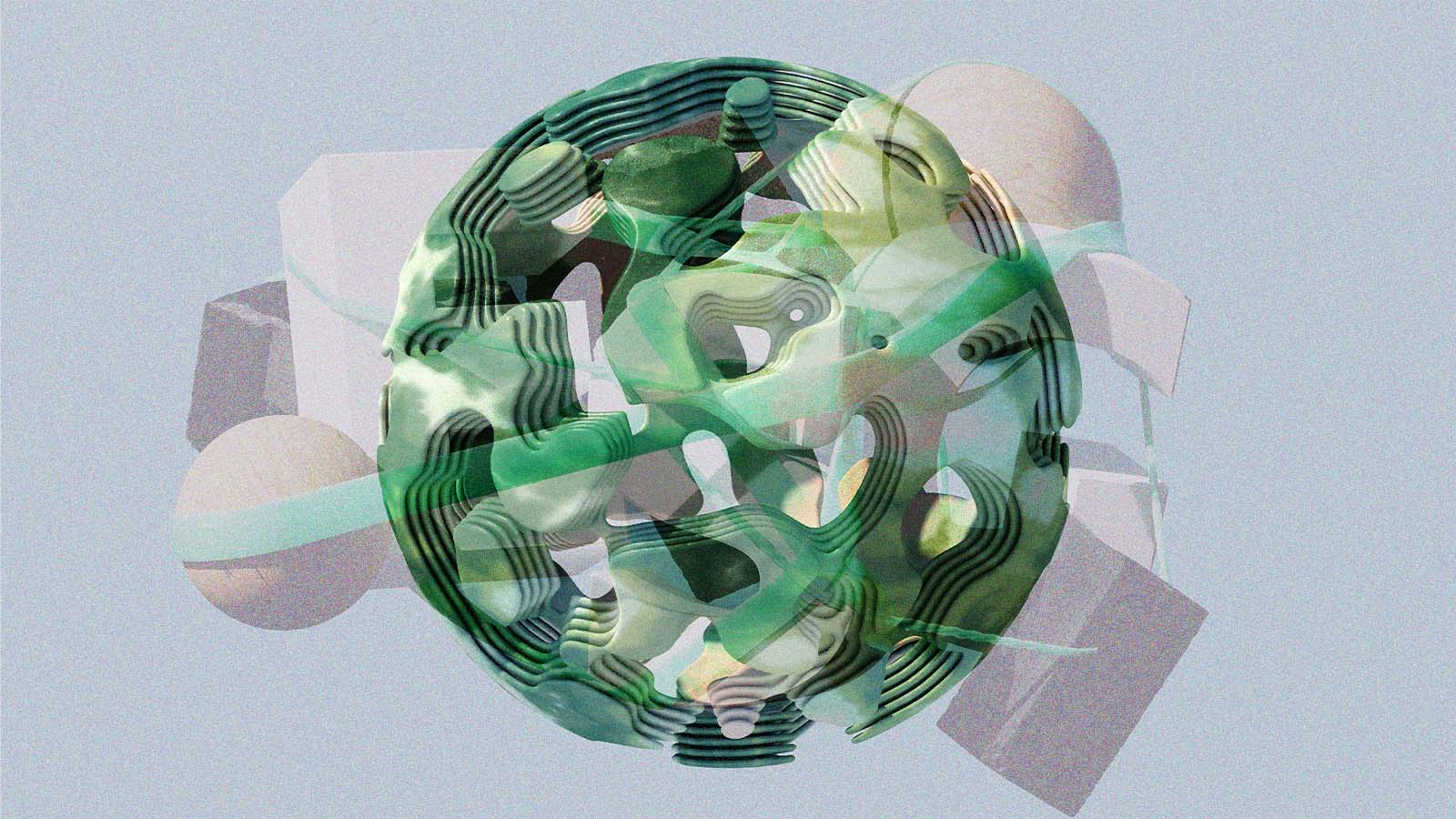Lilia Schwarcz: “penso uma independência mais inclusiva, que diga respeito a todes”
A antropóloga e historiadora propõem que a sociedade civil retome para si a comemoração do 7 de setembro

Acostumada a visitar o passado para pensar o presente e também o futuro, a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz tornou-se, nos últimos quatro anos, uma ativista pela informação de qualidade, exercendo - especialmente nas redes sociais - o que chama de cidadania vigilante. Sempre aberta ao diálogo, ela acredita que a desigualdade é um legado a ser reconstruído na agenda do presente. E que, claro, as empresas têm um papel fundamental nesta reconstrução.
Em meio aos muitos compromissos relativos ao lançamento de seu novo livro, "O sequestro da Independência: uma história da construção do mito do 7 de setembro'', ela topou conversar com a Fast Company Brasil. Lilia propõe que a sociedade civil retome para si esta comemoração e que repense os conceitos de liberdade e independência "no plural".
De que independência(s) estamos ou deveríamos estar falando neste 7 de setembro?
Essa é uma data que tem sido muito contestada, porque não é a única data da Independência. Foi um episódio de meada, mas não um episódio final. É preciso pensar que a Independência é um processo, que pode ter começado com a Conjuração dos Alfaiates, com a Conjuração Mineira, passou pela Revolução Praieira de 1817 e não termina no 7 de setembro. Até porque, durante toda a década de 1820, a Independência era comemorada em 10 de outubro, dia da aclamação e coroação de dom Pedro.
O 7 de setembro foi sendo forjado a partir de 1830, para dar proeminência à monarquia e a Dom Pedro. Mas o que importa é que a data passou por vários sequestros, várias mudanças de sentido. A festa sempre foi uma festa civil, uma festa republicana, na qual os estudantes iam para as ruas, as famílias faziam piquenique, tinha balões, tinha bandas. Desde 1972, quando se celebrou os 150 anos da Independência, em plena ditadura militar, a festa civil foi sequestrada pela festa militar.
Penso uma Independência muito mais plural, inclusiva e que diga respeito a todes nós, brasileiros.
O que é importante a gente pensar agora, em 2022, é que essa precisa ser uma festa da sociedade civil brasileira, na qual somos conclamados para pensar em liberdade e independência no plural. Que liberdade queremos comemorar? Que independência podemos imaginar para o futuro?
Eu, pelo menos, penso uma Independência muito mais plural, muito mais inclusiva e que diga respeito a todes nós, brasileiros. Aos homens, é claro, mas também ao protagonismo das mulheres, das pessoas negras, indígenas, da comunidade LGBTQIA+ e tantas outras pessoas que foram silenciadas por nosso processo histórico, que agora aparecem – ainda bem – na agenda brasileira.
A Fast Company Brasil costuma tratar de temas relacionados a inovação, transformação e futuro. Como o conhecimento e a reflexão sobre a história nacional podem nos ajudar a encontrar os caminhos para o futuro nos negócios?
Sempre recorro a uma figura de linguagem usada pelo historiador inglês Peter Burke. Ele diz que antes havia um funcionário chamado lembrete. O lembrete era aquela pessoa que trabalhava em uma biblioteca e que tinha que lembrar as pessoas que elas estavam atrasadas para devolver os livros, ou que estavam fazendo dobras nos documentos, ou que estavam rasurando as fontes, ou ainda que estava na hora de sair da biblioteca. Ou seja, ele dava um lembrete.
quanto mais diversos formos, melhores seremos.
Vamos combinar que a história é uma espécie de lembrete. Um lembrete para pensarmos o nosso presente, projetar nosso futuro. Sempre digo que o nosso presente está cheio de passado. Então, como ajudar a pensar de maneira inovadora o futuro das empresas, das organizações? Se elas notassem que não existe determinismo histórico, mas que é possível mudar alguns traços da sociedade brasileira que vêm do passado, como, por exemplo, a desigualdade.
A desigualdade é um legado do longo sistema escravocrata, mas é um legado reconstruído na agenda do presente. Então, se conseguirmos não transformar a desigualdade em uma linguagem naturalizada, se fizermos dela uma meta, um objetivo, quem sabe vamos ser mais felizes, inclusive.
Também penso que herdamos do passado escravocrata esse racismo estrutural institucional presente nas nossas empresas. Pois bem, o problema é que essa é uma questão que nos atinge como nação. O problema racial não tem a ver apenas com as populações negras, tem a ver com todos nós. Porque quanto mais diversos formos, melhores seremos.
Diversidade e futuro do trabalho estão justamente entre os temas mais discutidos no mundo. Em “O Autoritarismo Brasileiro”, você discute as implicações da escravidão e do racismo na sociedade brasileira de hoje. Que salto precisamos dar para, de fato, criar um ambiente mais diverso e criativo nas empresas?
Sempre chamo atenção me pautando em um livro da Cida Bento sobre o pacto da branquitude, que diz que a escravidão foi um legado pesado para as populações negras, mas também para as populações brancas. Precisamos refletir, a branquitude – sou branca – de que maneira a escravidão nos impactou.
De que maneira ela criou uma sociedade em que poucos mandavam e muitos obedeciam? Uma sociedade em que alguns de nós fomos grandes proprietários, ou mesmo senhores de escravos – não todos, mas herdamos uma sociedade com muita hierarquia, e uma hierarquia muito naturalizada.
A desigualdade é um legado do longo sistema escravocrata, reconstruído na agenda do presente.
Penso que é hora de falarmos não só da diversidade dos outros, ou seja, racializar não só a diversidade alheia, mas racializar a nós mesmos e perguntar por que é que perpetuamos esse modelo em que podemos até incluir, mas as posições de mando são todas ocupadas por pessoas brancas – e que não refletem sobre a sua posição, porque a branquitude é uma espécie de norma invisível, uma situação confortável que não é mencionada ou questionada. Branquitude parece ser uma cor neutra, mas não é.
Temos que parar de dizer que vamos estudar os outros, entender os outros, e passar a entender a nós mesmos. Quando fizermos isso, vamos ver, por exemplo, o fato de não incluímos para valer 56,4% da nossa população (porque, segundo as categorias do IBGE, dentre as pessoas pretas e pardas, chegamos a este percentual).
Se passarmos a incluir esta que é a maioria da população, teremos empresas muito mais criativas, faremos projetos que dizem mais respeito ao nosso povo de uma forma ampla e que nos representem mais. Esses são procedimentos incontornáveis, necessários. Mas também são procedimentos que levarão a ambientes muito mais criativos, muito mais plurais nas empresas brasileiras.
Até bem pouco tempo atrás a maioria dos intelectuais se restringia aos seus gabinetes, teses, bancas e livros, nem sempre com linguagem acessível. O que a motivou a ocupar a tribuna, muitas vezes selvagem, das redes sociais? E de que forma você, como intelectual, foi afetada por essa nova forma de comunicação?
Muita gente demoniza as redes sociais. Eu também sou uma pessoa formada pela escola pública e pela universidade pública e leciono na Universidade de São Paulo, a maior universidade da América do Sul. Pois bem, também leciono em Princeton há mais de 10 anos, mas vou falar da minha experiência na USP.
Durante muito tempo, achei que o ambiente da academia era suficiente. Foi a partir dessa crise que vivemos – a crise, no Brasil, é uma crise política, econômica, social, da saúde, moral e civilizacional, eu diria – que passei a sentir a necessidade de me comunicar com mais gente. Passei a achar que era preciso que a academia saísse da sua bolha.
Temos que parar de dizer que vamos estudar os outros, entender os outros, e passar a entender a nós mesmos.
A academia brasileira é muito boa, muito reconhecida internacionalmente. Mas passei a achar – e aprendi com a universidade norte-americana – que a intelectualidade precisa entrar nessa que é uma missão nossa, de um país menos intolerante. Os números de intolerância aumentaram muito no Brasil desde o segundo semestre de 2018. A missão de um país menos dividido, com mais informação, com boa informação.
Passei a não ver mais as redes como um lugar demonizado. Ao contrário, passei a entender que essa seria uma forma de ter uma reação diversa, de chegar mais perto da sociedade brasileira. Acabei crescendo muito: agora são mais de 420 mil seguidores no Instagram, tenho no Youtube o canal da Lili, e fico muito feliz quando os professores me procuram e dizem que ouvem as minhas aulas com seus alunos, ou que discutem as imagens junto comigo, ou que discutem também política e dia a dia comigo.
Também aprendo muito. Tenho um grupo grande de seguidores, que dão conselhos, que às vezes corrigem meus textos, o que é muito bom. Nós, os setores progressistas dessa nossa sociedade (me considero uma pessoa progressista), precisamos ocupar esses espaços também, para não criar um conhecimento setorizado.
A academia não pode dizer que as escolas não fornecem uma educação de pouca qualidade ou pouco atualizada, se ela não for ao encontro dessas pessoas. Nesse momento em que vivemos, a academia precisa mostrar ao que veio, ou seja, qual a sua importância na conformação de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais democrática.
Como você se sente, e o que aprendeu de mais importante, depois de quatro anos de intensa oposição ao atual governo?
Considero que pratico uma cidadania vigilante. Na verdade, a oposição ao atual governo é consequência da minha cidadania. Não é causa. Portanto, eu faço essa oposição diária voluntariamente – escrevo tudo sozinha, respondo tudo sozinha e sofro as consequências sozinha. Não tenho nenhum financiamento, nada disso.
O que eu aprendi? Primeiro, que é preciso lutar com a única arma que temos, que é a arma da democracia e da boa informação. Não penso que fake news é liberdade de expressão. Fake news é mentira. Então, uso da minha formação na academia para dar boa informação. É claro que falo das minhas preferências, mas penso que meu Instagram cresceu muito, e o meu canal também, justamente pela qualidade da informação que ofereço.
Por exemplo, sempre explico tudo que eu afirmo. Sempre dou dados, sempre defino as instituições. Sempre caracterizo, explico os conceitos que utilizo. O que eu mais aprendi é a importância do debate horizontal, do debate com pessoas que não conheço pessoalmente, que não têm por que me conhecer. Fiz muitos amigos, e devo dizer que tenho poucos haters. Talvez devesse ter mais para poder conversar mais, mas sempre respondo com muita educação a todos, na medida do possível.
A academia precisa mostrar qual a sua importância na conformação de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.
Tento, sobretudo, responder àqueles que discordam de mim. Busco ouvir, mas busco também explicar meus argumentos. Aprendi que democracia é assim, é feita na horizontalidade e, mais ainda, que democracia não é feita na imposição de autoridade. As pessoas que estão lá estão porque querem me ler, querem dialogar comigo.
Outra questão importantíssima, aprendi que a cidadania é uma franquia da democracia. Cidadania, cada um pratica do seu lugar. Como sou uma pessoa formada pela escola pública e pela universidade pública, sinto que devo isso. Devo isso a mim mesma. Devo isso aos outros também. Aqueles que gostam de se informar, ou gostam das notícias que seleciono, ou da maneira como leio imagens. Aí eu vou aplicando essas duas regras básicas da democracia: cidadania vigilante e diálogo horizontal.
Você se sente otimista em relação ao futuro do Brasil?
Sou pessimista no varejo e otimista no atacado. A sociedade brasileira viveu um período muito ruim de quatro anos na área em que atuo, a educação pública. As consequências do descaso do atual governo são tremendas e, seja lá quem vier a assumir, nossos próximos quatro anos serão difíceis.
a cidadania é uma franquia da democracia.
Vai ser difícil arrumar a casa, vai ser muito difícil colocar as instituições no lugar, restituir verbas. Os problemas no meio ambiente são gravíssimos, a situação de impunidade na Amazônia é terrível – tenho muitos colegas por lá. Então, os quatro anos que vêm por aí não serão fáceis. Mas a sociedade brasileira já se perdeu e se encontrou muitas vezes na história.
Tivemos momentos difíceis e acabamos vencendo. Acredito muito que a palavra crise quer dizer decisão e que nós nos encontramos em um momento de decisão. Mas vamos lá, ter muita coragem, ir em frente e sair dessa crise. E sair melhores, porque a gente sempre aprende com os períodos de adversidade.