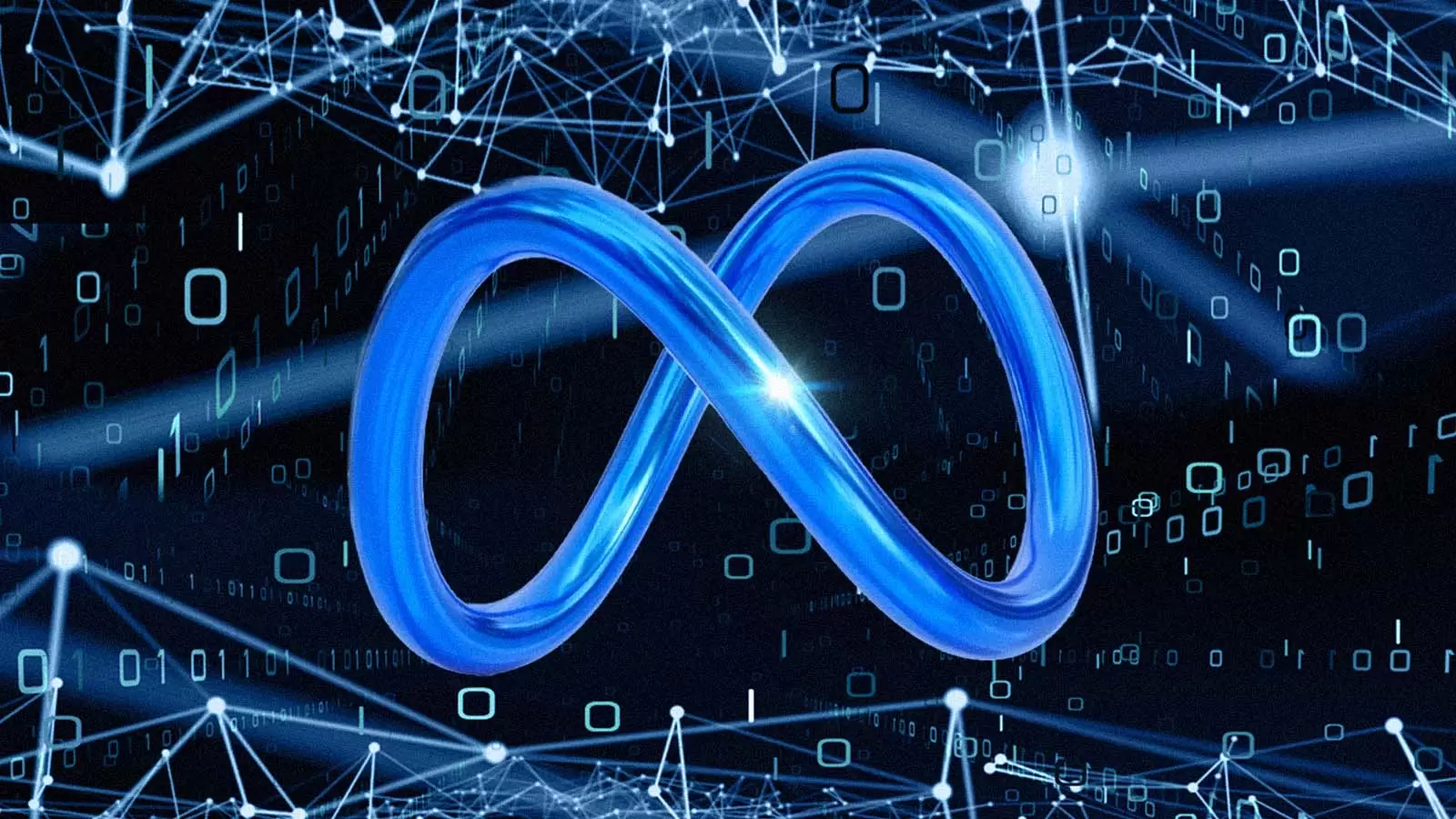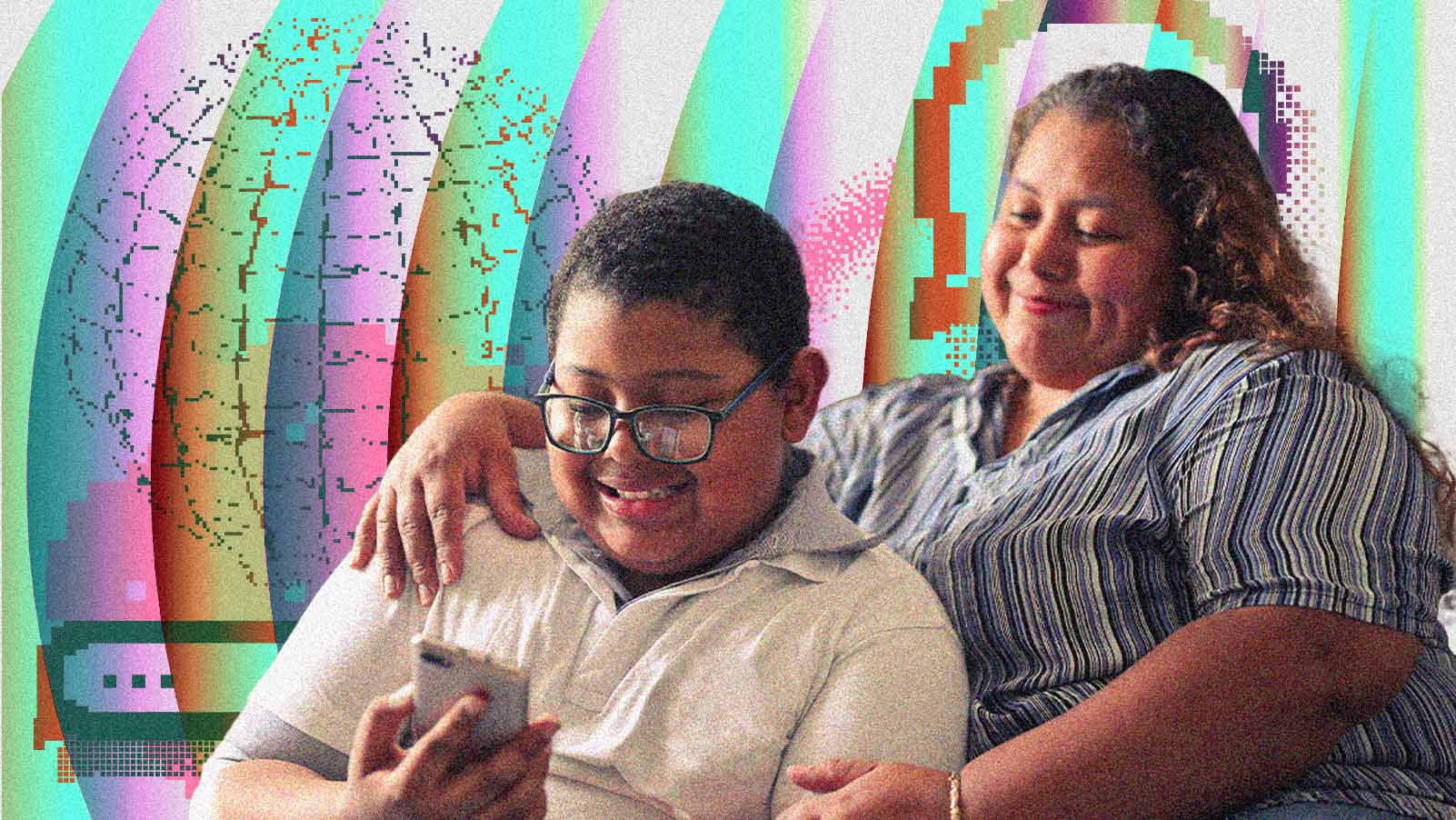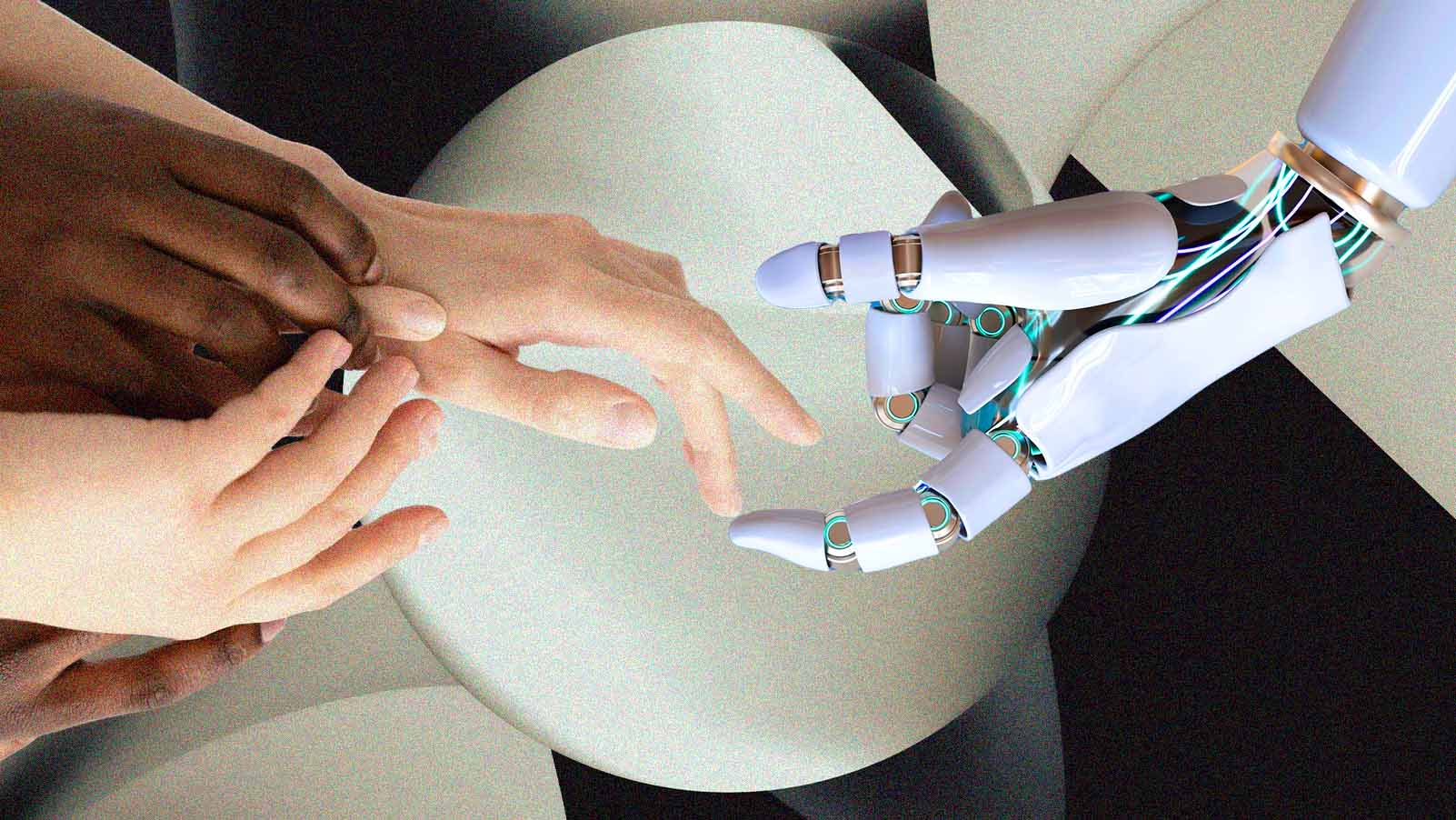Memória, política e a política da memória
Imaginar os futuros que queremos passa, necessariamente, por recontar o passado sob novas perspectivas

Passei sete semanas na Cidade do Cabo, na África do Sul. Fui para estudar inglês, mas voltei com muito mais do que novas palavras. Compartilhei um pouco dessa experiência neste artigo. Minha intenção com a viagem era também entender como essa sociedade enfrentou o apartheid, resistiu e encontrou caminhos para se reencantar com o mundo.
O que podemos – e precisamos – aprender com essa história? Voltei de lá com muitas ideias, questionamentos, algumas dúvidas e pelo menos uma certeza: imaginar futuros passa, antes de tudo, por como escolhemos narrar e encarar o passado.
Foi minha primeira vez no continente africano. Como mulher negra brasileira, essa ausência era mais do que geográfica. Era simbólica.
Pisar naquele território foi, para mim, um reencontro – em meio a camadas de afeto, política e desconforto – com raízes distantes. Sentia o peso das histórias que nunca me foram contadas na escola. Aquelas que nos faltam, mas nos constituem.
A África do Sul é, evidentemente, um país de contrastes. De um lado, carrega a força simbólica de um Estado que reconhece sua história recente de violência e segregação. Museus como o District Six e o Apartheid Museum apresentam com crueza e coragem os horrores do regime racista que por décadas governou o país.
O protagonismo negro é visível nas artes, nas universidades e nas ruas. Existem 11 línguas oficiais, reflexo de uma tentativa real de reconhecer as múltiplas identidades que compõem a nação.
Porém, ao mesmo tempo, faltam políticas públicas universais. A educação pública não é gratuita. O sistema de saúde, como conhecemos no Brasil com o Sistema Único de Saúde, não existe. Os efeitos da desigualdade econômica e racial continuam definindo vidas.
E foi justamente esse contraste que me fez olhar com mais atenção para o Brasil e para as conquistas que, por vezes, subestimamos.
Somos um país onde a presença negra raramente é celebrada nos grandes museus ou no imaginário da inovação, mas temos políticas como a escola pública gratuita e o SUS. Avançamos em estrutura (embora precisemos avançar ainda mais), enquanto seguimos devendo no simbólico.
Ao olhar para outras realidades, podemos enxergar melhor o que ainda falta transformar aqui.
Já a África do Sul percorre, muitas vezes, o caminho oposto.
Essa inversão de trajetórias me fez pensar: que futuro é possível quando falta estrutura? E, por outro lado, como podemos imaginar um país mais justo quando ainda há tanto a reconhecer sobre a própria história?
Um dos momentos mais marcantes da viagem foi a visita à Robben Island, onde Nelson Mandela passou 18 dos seus 27 anos de prisão. Quem nos guiou foi Monty, ex-prisioneiro político, que esteve ali entre 1977 e 1982.
Ao nos conduzir até as celas, ele compartilhou sua história – da prisão por participar do levante estudantil de 1976 até as greves de fome e as aulas clandestinas criadas entre os presos.
Caminhar por aquele espaço ao lado de alguém que viveu na pele a brutalidade do apartheid foi uma lição única de resistência. “Essa prisão foi a universidade política onde formamos nossa consciência”, ele disse.

A memória é uma ferramenta de disputa pelo presente, é política. Valorizar narrativas plurais, preservar histórias silenciadas e dar corpo às experiências coletivas é também uma forma potente de inovação – no sentido de impulsionar a capacidade que temos de reimaginar, reconstruir, resistir.
Foi impossível não pensar no Códigos Negros, projeto que criamos no Olabi para fortalecer o poder da imaginação radical negra. Assim como os museus sul-africanos, ele parte da convicção de que lembrar é também criar. Que a memória é tecnologia social, que contar nossas histórias com voz própria é o primeiro passo para transformar a realidade ao nosso redor.
Durante a viagem, fui acolhida por uma comunidade vibrante. Conheci artistas, acadêmicos e ativistas. Mas também fui confrontada com questões sobre identidade. No Brasil, sou uma mulher negra. Na África do Sul, fui tratada como coloured, uma categoria herdada do apartheid, com significados e estigmas próprios.
como podemos imaginar um país mais justo quando ainda há tanto a reconhecer sobre a própria história?
Isso me fez entender, com mais profundidade, que raça é uma construção social que varia conforme o território, o contexto. E que, mesmo com todas as diferenças, o Brasil, como diz Sueli Carneiro, está na minha cara: mestiço, contraditório, cheio de dor e de força.
Voltei da Cidade do Cabo ainda mais convencida de que imaginar os futuros que queremos passa, necessariamente, por recontar o passado sob novas perspectivas. Precisamos da memória como bússola e de estruturas que sustentem a vida. E precisamos das duas coisas ao mesmo tempo.
Ao olhar para outras realidades, podemos enxergar melhor o que ainda falta transformar aqui. A África do Sul me ensinou que avanços simbólicos importam, mas que não bastam sozinhos. Que é preciso somar gesto político e ação concreta. Que as dores de lá ressoam nas nossas, mas que as conquistas de cá, mesmo incompletas, são sementes que precisamos proteger.
Há sempre uma política da memória em curso – nas ausências e nos silêncios, nos monumentos e nas vozes que resistem. Reconhecer isso é parte do trabalho de imaginar novos futuros. Os futuros não estão dados, eles estão em disputa. E imaginar é, também, um ato de resistência.