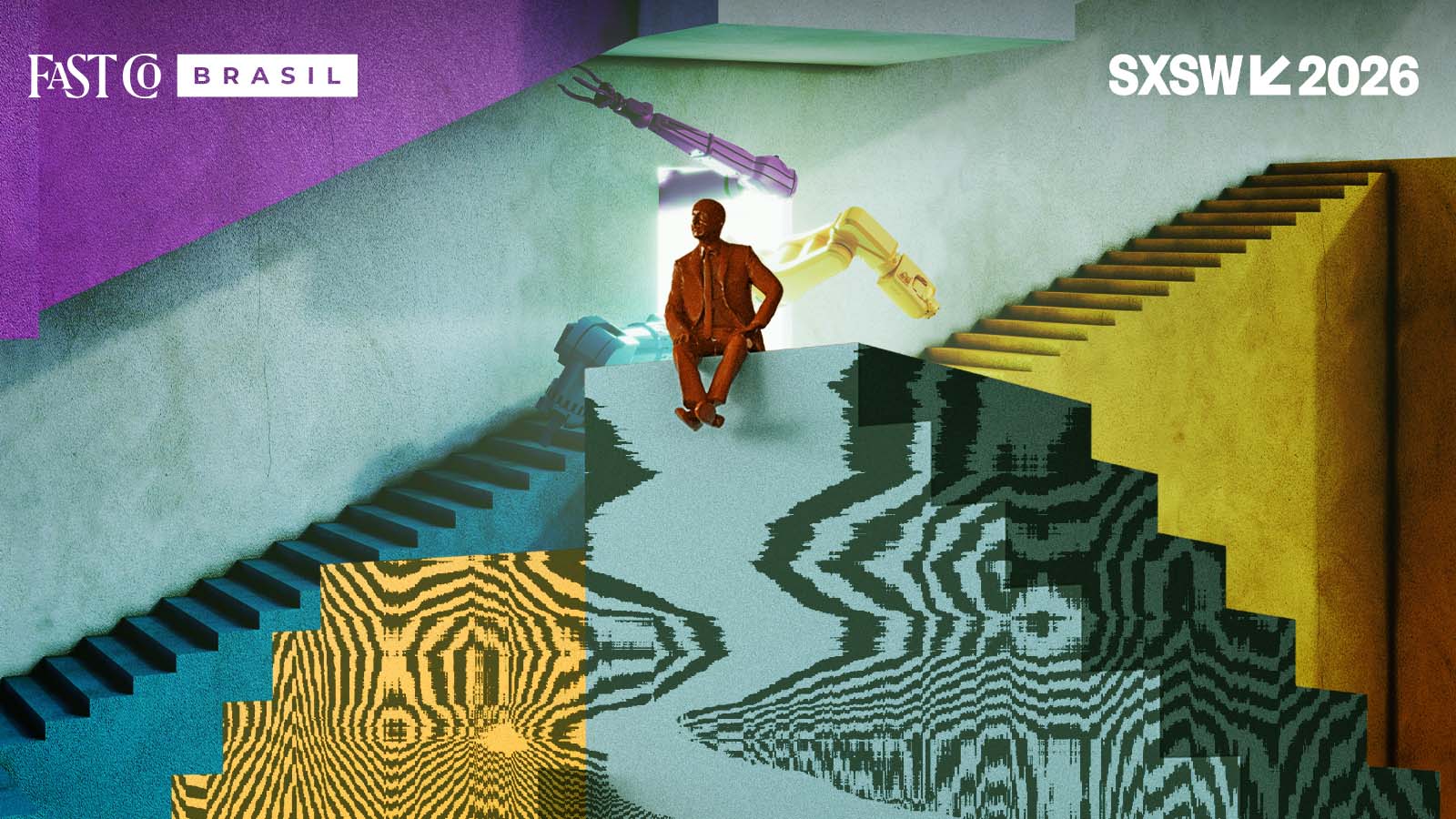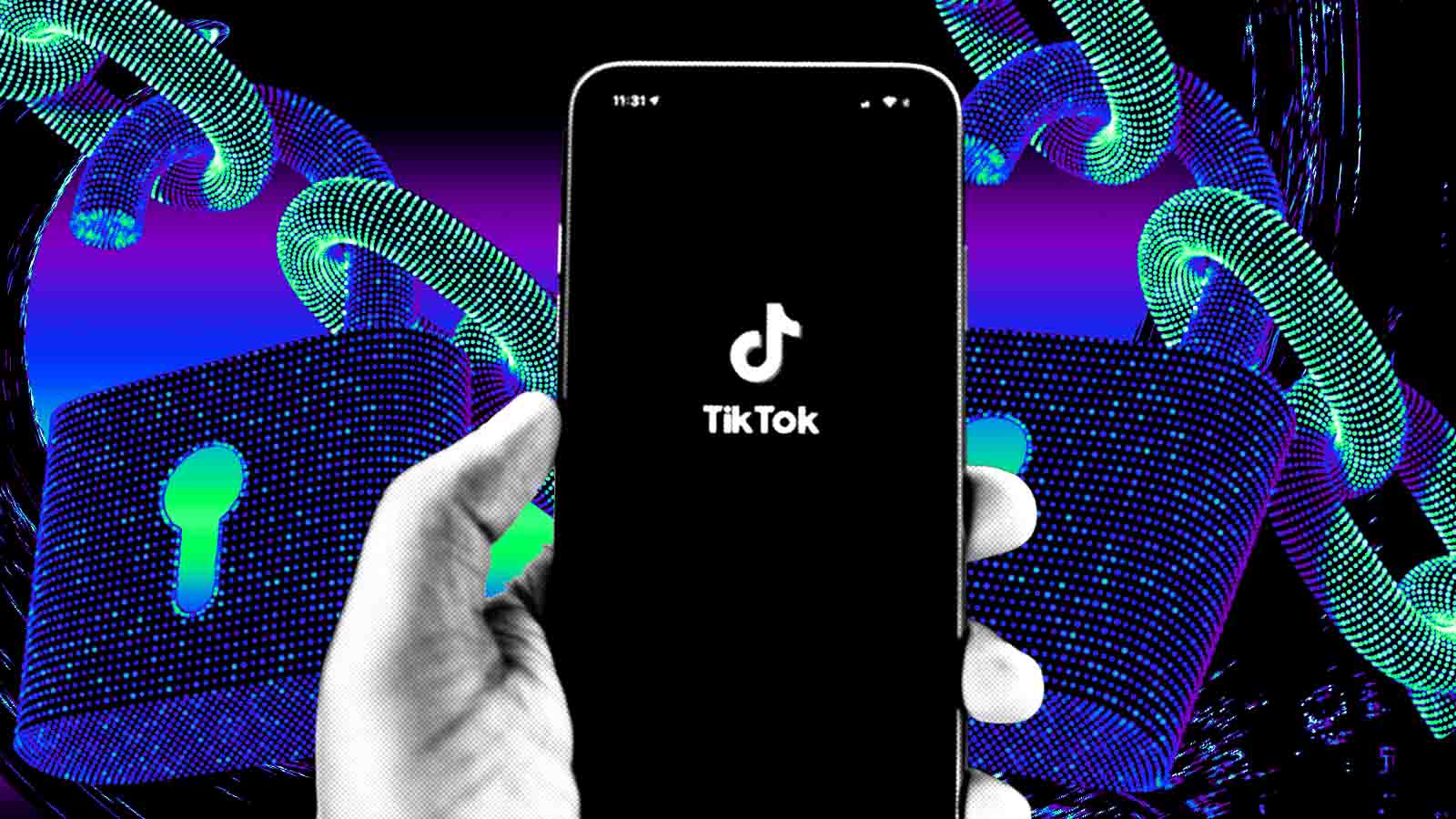IA desafia o design a largar o automático (e ousar de novo)
O design gráfico anda repetitivo e sem vida – e talvez a inteligência artificial seja o empurrão que faltava para quebrar esse ciclo.
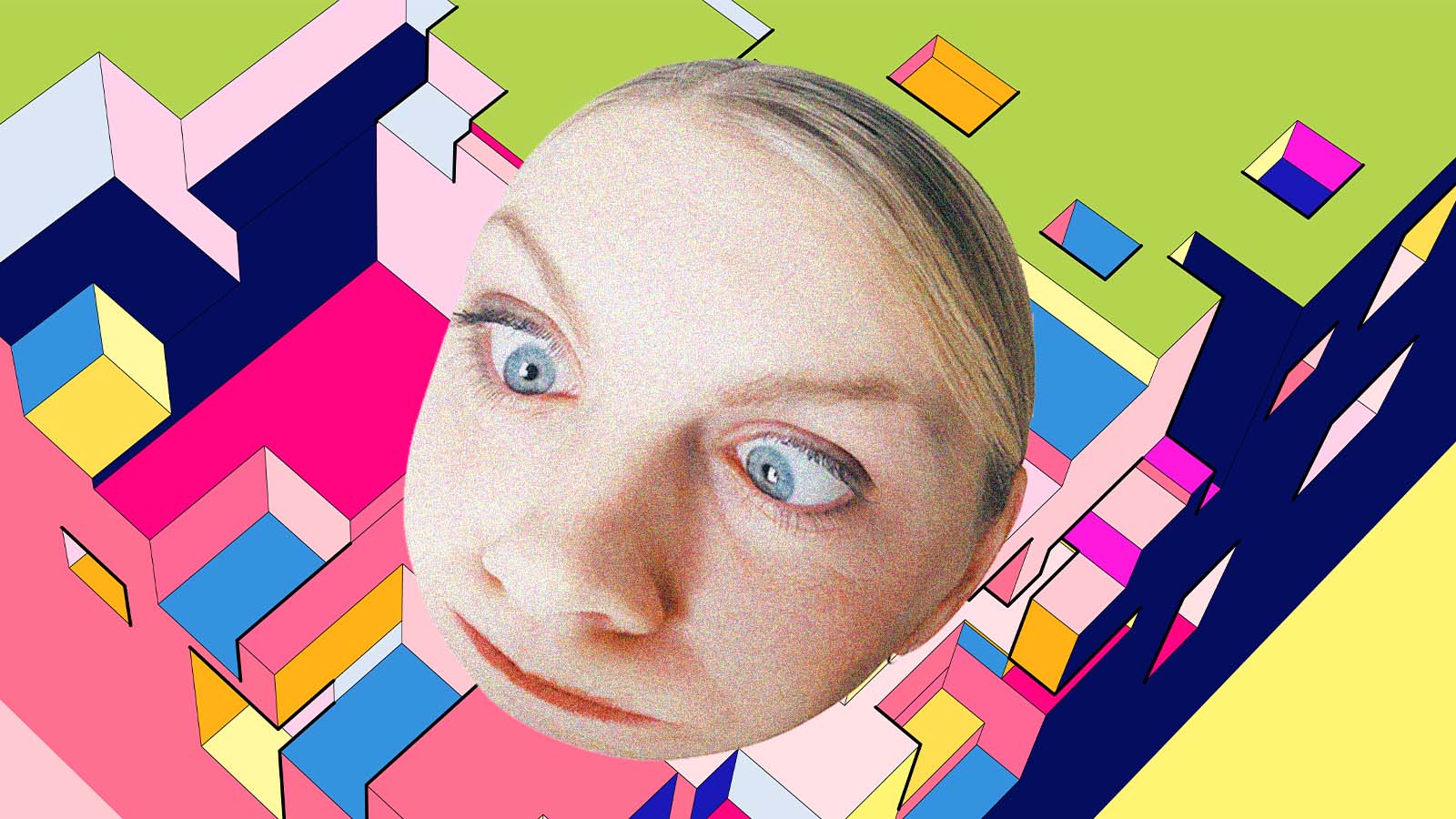
Entre todas as áreas do design, talvez nenhuma carregue tanta insegurança quanto o design gráfico. A cada nova tecnologia, surge o temor de que a profissão esteja com os dias contados. Foi assim nos anos 1990, quando a editoração eletrônica facilitou a criação de layouts. E de novo no fim dos anos 2000, com a migração para o digital e o debate sobre designers precisarem ou não aprender a programar, já que “o impresso havia morrido”. Agora, com a inteligência artificial, a ameaça parece ainda mais real.
O Fórum Econômico Mundial, inclusive, colocou o design gráfico na lista das profissões mais ameaçadas pela inteligência artificial – logo abaixo de contadores, caixas de banco e digitadores. Mas, no fundo, o maior risco para a área já vem se desenhando há anos, sem que déssemos a devida atenção.
Hoje, muito do design gráfico já parece como se tivesse sido produzido por uma máquina: padronizado, repetitivo e preso aos mesmos processos, ferramentas e estilos. De capas de livros a posts em redes sociais, de identidades visuais a interfaces digitais, vemos um design que se repete.
Assim como um texto gerado pelo ChatGPT, grande parte do design gráfico atual parece apenas uma reprodução de tudo o que já existe. E talvez a IA assuste tanto justamente porque, em muitos sentidos, os designers já estão trabalhando como ela.
UM DIAGRAMA DE VENN DA PROFISSÃO
Os grandes modelos de linguagem são treinados com enormes quantidades de dados – textos, códigos, imagens – para encontrar padrões e prever conexões. À primeira vista, parece mágica. Mas, no fundo, não passa de estatística aplicada em escala.
É por isso que a maioria das imagens e textos criados por AI parece trivial, em vez de inovadora. A filósofa Danielle Allen, inclusive, prefere chamar a tecnologia de “inteligência centralizada”, já que tende a homogeneizar tudo o que toca.
Só que, ao contrário de outras profissões ameaçadas pela automação, o design gráfico nunca foi apenas repetição. Ferramentas como Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E já mostraram que podem gerar logotipos minimalistas, ilustrações convincentes e até interfaces completas. Mas o design gráfico sempre foi mais do que isso.
Em seu livro “Graphic Design Before Graphic Designers” (O design gráfico antes dos designers), David Jury lembra que a profissão “nasceu quando o ‘design’ de materiais impressos passou a ser uma atividade comercial viável, independente da impressão”.
Ou seja: não se trata apenas da ferramenta usada – seja a prensa, o computador ou a IA – nem do estilo individual de um criador. O design gráfico sempre foi uma área em constante transformação, situada entre arte e marketing, publicidade e estratégia, ilustração e comunicação.
Esse é o paradoxo da profissão: ela é, ao mesmo tempo, técnica e estética, cultural e funcional, artística e comercial, estratégica e humana. Não à toa, muitos dos primeiros designers se autodenominavam “artistas comerciais”.
O QUE É, AFINAL, DESIGN GRÁFICO?
O design gráfico, como entendemos hoje, nasceu com a Revolução Industrial. Quando os produtos passaram a ser fabricados em escala e vendidos em massa, a função do design era diferenciá-los – fazer com que cada item parecesse único em meio a tantos iguais.
O papel do designer passou a ser criar sistemas – em vez de peças isoladas
No começo, era visto quase como um “acabamento”, um enfeite aplicado ao fim da produção. Mas, a partir da metade do século 20, com designers como Paul Rand e Massimo Vignelli trabalhando para grandes corporações multinacionais, a identidade visual precisava funcionar em várias superfícies e contextos. O papel do designer passou a ser criar sistemas – em vez de peças isoladas.
Surgiram, então, os manuais de identidade visual, com regras para o uso de logotipos, cores e tipografias. O design deixou de ser só adorno e passou a garantir clareza, consistência e força de marca.
Assim, o discurso mudou: o design gráfico deixou de ser visto como arte e passou a ser entendido como uma ferramenta estratégica de negócio – uma forma de organizar informações, vender produtos e capturar atenção.
DO DESIGN À “RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS”
Josef Müller-Brockmann, em The Graphic Artist and His Design Problems (O artista gráfico e seus problemas de design), defendia um design claro e organizado, baseado em grades e método. A profissão passou, então, a ser vista como uma disciplina de “resolução de problemas”.
Cada decisão deveria responder a um briefing: como atrair o público? Como simplificar dados complexos? Como diferenciar uma marca da concorrência?
Em 2008, Tim Brown popularizou o conceito de “design thinking” em artigo publicado na “Harvard Business Review”. Para ele, o design era “uma disciplina que usa sensibilidade e método para alinhar as necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável e com uma estratégia de negócios sustentável que gere valor e oportunidades de mercado”. Daí nasceram as cinco etapas – empatia, definição, ideação, prototipagem e teste.
Esse modelo trouxe legitimidade e aproximou o design da engenharia e da ciência. Mas também padronizou processos e o afastou da intuição criativa. Designers passaram a se basear menos em preferências pessoais e mais em pesquisa com usuários, testes A/ B e iteração constante.
O exemplo marcante veio em 2009, quando o Google não conseguia decidir entre dois tons de azul para os links nos resultados de busca. A solução encontrada foi testar 41 variações. Depois disso, Douglas Bowman, então diretor de design visual da empresa, pediu demissão, criticando o excesso de decisões baseadas apenas em dados. Para muitos, foi um prenúncio do que viria.
O DESIGN NA LINHA DE MONTAGEM
Com a padronização dos processos – e a ascensão dos sistemas de design, dos modelos de experiência do usuário e da uniformização das estratégias de marca –, o papel do designer individual foi diminuindo. Muitos passaram a atuar como operários de uma linha de produção, responsáveis por pequenas partes de projetos cada vez maiores.
“Ser designer virou montar peças visuais pré-fabricadas e estruturas padronizadas”, dizia um post viral de 2023 no UX Planet. “Muitos já perceberam como os sistemas de design lembram peças de Lego, que devem ser montadas para criar algo que ‘parece’ um bom produto.”
O problema é que, quanto mais repetitivo o trabalho, mais fácil é automatizá-lo. Como resumiu Silvio Lorusso em “What Design Can’t Do” (O que o design não consegue fazer): “essa divisão mecaniza o trabalho e tira a autonomia criativa – e, com ela, o sentido do que se faz.”
O resultado é a homogeneização dos projetos: identidades visuais parecidas, interfaces digitais que se repetem, sites e aplicativos que parecem todos iguais.
Não surpreende que, quando o Figma lançou seu gerador de layouts por IA em 2024, ele tenha produzido um aplicativo de previsão do tempo que foi imediatamente acusado de copiar o da Apple. Mas, na prática, quantos outros já não eram praticamente iguais?
O FIM DA “RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS”
Nada disso é culpa exclusiva dos designers. O design sempre foi guiado por pressões de mercado: eficiência, vendas, lucro, previsibilidade.
E, com a inteligência artificial, deve continuar assim. Empresas e consumidores buscam consistência, não riscos. Querem algo reconhecível em que possam confiar.
Mas fica a dúvida: será que o design gráfico chegou ao limite desse modelo de “resolver problemas”? Se a IA já resolve problemas e gera imagens medianas, o que resta para os designers?
Talvez a resposta esteja nos anos 1990, quando a editoração eletrônica parecia o fim da profissão. Assim como agora, uma nova tecnologia obrigou os designers a repensarem sua prática. E, em vez de recuar, eles reagiram com ousadia estética e conceitual.
Foi um dos períodos mais vibrantes da história do design gráfico: os layouts complexos de April Greiman, o design editorial grunge de David Carson, os trabalhos reflexivos da Cranbrook Academy of Art e publicações radicais como a revista “Emigre”. Essas produções desafiavam as regras, questionavam o papel do design na sociedade e propunham novos caminhos.
O computador não acabou com o design gráfico – e a IA também não vai. Mas vai transformá-lo. Assim como o desktop assumiu tarefas repetitivas, a IA deve cuidar das funções mais simples e padronizadas: cartões de visita, ícones básicos, sites genéricos. Isso não deve ser visto como ameaça, é uma oportunidade de corrigir rumos, experimentar e reinventar modos de atuação.
Hoje já vemos sinais disso em movimentos como o design decolonial, feminista e pós-capitalista. Também no modo como os próprios profissionais reagem à IA – uns rejeitando, outros explorando –, forçando o setor a repensar sua relação com a tecnologia.
Além disso, muitos clientes estão voltando a buscar o diferente. Para transmitir autenticidade e se destacar, muitas marcas vão querer voltar ao “feito à mão” – designs únicos, criados por humanos. Isso pode significar soluções sob medida, ligadas a comunidades menores, subculturas ou expressões locais.
Essas são coisas que a inteligência artificial não consegue replicar bem. E, de certa forma, sempre foi isso que definiu o design gráfico. A questão não é se a IA vai substituir os designers, mas que novos tipos de design vão surgir a partir daqui.