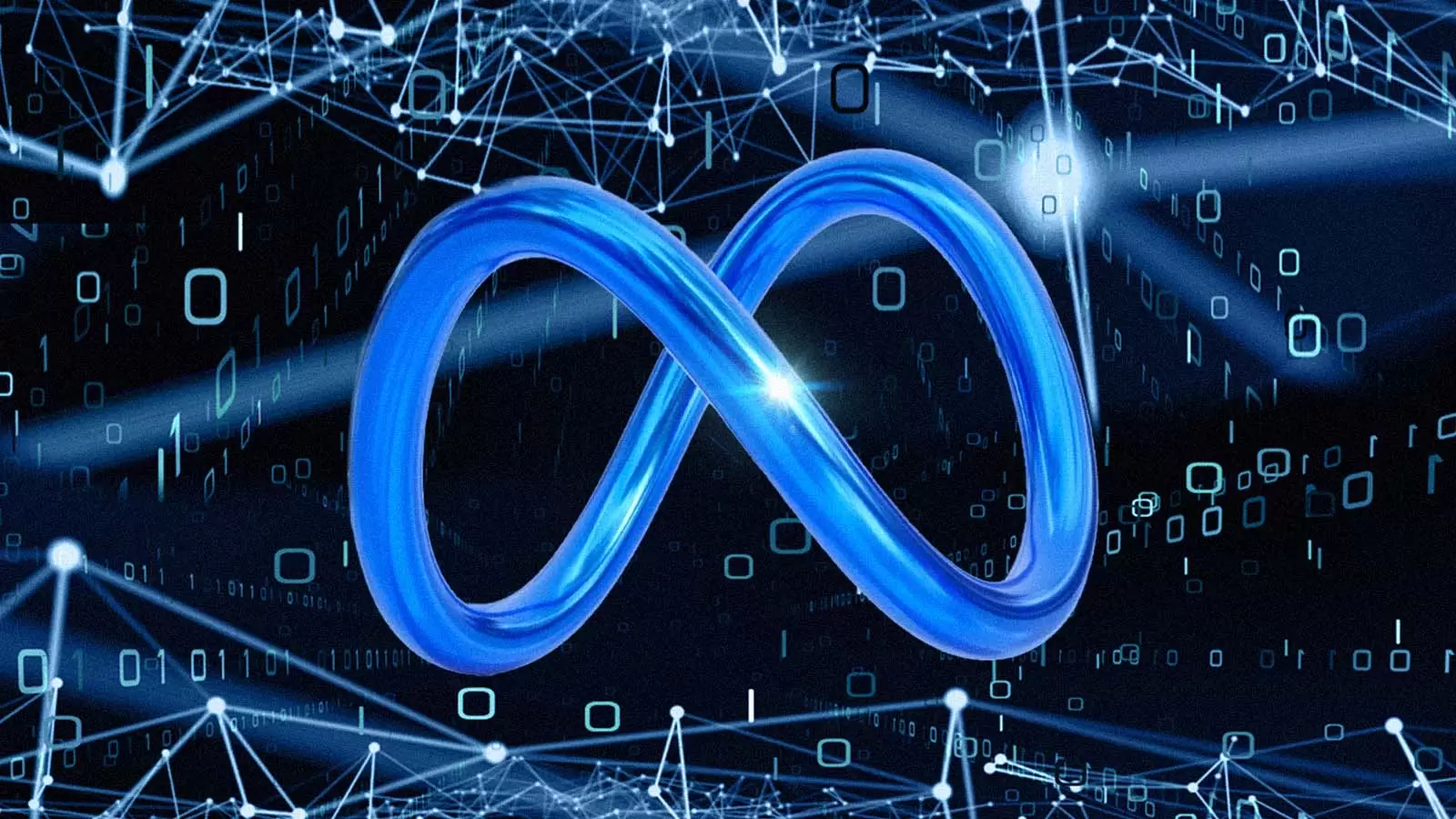Quem é o gamer brasileiro e por que a sua marca precisa saber disso

No Brasil, hoje, 95 milhões de pessoas admitem jogar jogos eletrônicos, independentemente da plataforma, como um hábito no dia a dia — o número representa 72% da população brasileira. Entre eles, 62% vão além apenas do ato de jogar e consideram sua identidade alinhada com o conceito gamer. Com a pandemia, os gamers passaram a consumir mais e por mais tempo. São milhões de pessoas que, por algum motivo, tiveram sua atenção capturada pela missão de apertar botões em prol de receber recompensa, derrotar o time adversário, marcar um gol, capturar um Pokémon ou construir um terreno usando blocos.
Como surfar nessa onda com a sua marca? Como aproveitar as oportunidades de conversão dentro da audiência gamer? Responder a essas perguntas é parte do dia a dia de Guilherme Camargo, sócio-CEO do Sioux Group — grupo criado em 2001 e que reúne cinco empresas de pesquisa de mercado, tecnologia, consultoria e gamificação. Guilherme tem experiência nas áreas de consumo e tecnologia. Durante seus treze anos de Microsoft, foi um dos responsáveis pela produção local de consoles e jogos para Xbox. Ele acompanha de perto os dados sobre o consumo do público brasileiro, quando o assunto são jogos eletrônicos, e ajudou a desenvolver a Pesquisa Game Brasil (PGB), realizada pelo Sioux Group em parceria com a Blend New Research e ESPM.

Guilherme Camargo, sócio-CEO do Sioux Group (Crédito: divulgação)
Nesta entrevista, Guilherme responde a nove perguntas sobre quem é o gamer brasileiro e como as marcas — não só as de tecnologia — podem se posicionar perante esses milhões de consumidores em potencial.
Fast Company Brasil: O perfil da pessoa que joga jogos eletrônicos no Brasil, nos últimos anos, passou por transformações?
A gente faz a pesquisa desde 2013. Começamos olhando só para o mercado mobile e, a partir de 2014, começamos a olhar para todas as plataformas, como consoles, computadores e tablets. Em 2018, foi a primeira vez que as mulheres assumiram a liderança no perfil do gamer brasileiro. Lembrando que, para nós, gamer é quem se identifica com o comportamento. Por exemplo, se você tiver um momento de descontração, você vai jogar algum jogo eletrônico. Na ordem cronológica, o que nós vemos é o crescimento das mulheres nessa parte importante do mercado de consumo, muito por conta dos jogos casuais e da plataforma smartphone. Jogos como Fazendinha, Candy Crush, muitos hard core gamers torciam o nariz para eles, diziam que isso não é jogo. Mas é jogo e as mulheres têm um peso nesse segmento.
FCB: E quando a gente olha para a segmentação de gênero, existem diferenças no consumo dos jogos?
Pela preferência da plataforma e do jogo também. Não é que não existam mulheres hard core gamers, que jogam Counter-Strike, jogos de tiro. Mas, na sua maioria, as mulheres tendem a ter um comportamento mais casual, de jogos casuais, como o Candy Crush. Os homens tendem a ter um comportamento mais hard core, no envolvimento com toda a cultura de consumo de jogos. Então, por mais que as mulheres sejam maioria nos jogadores de jogos digitais, quando você começa a afunilar os dados, você percebe que os homens têm maior relevância no consumo de conteúdo.
“Os games viraram um mar de oportunidade. ‘Faz um anúncio dentro do jogo X, que seu público vai estar lá’. Não é bem assim. O que mostra que jogo, como espinha dorsal de comunicação, é plataforma de mídia. Mas, como qualquer mídia, você precisa segmentar e clusterizar para ser mais efetivo nos resultados.”
FCB: E no quesito acesso aos jogos pelas faixas de renda, videogame ainda é uma brincadeira cara?
Uma coisa que vimos nos últimos dois anos é que um jogo chamado Free Fire está trazendo a classe C para dentro de um segmento que era coisa de homem branco da classe A e B, que jogava com consoles. Nos últimos dois anos, essa curva de classe social vem trazendo uma democracia social para o segmento. Hoje em dia, um celular, que você vai usar para fazer aula, falar com amigos, virou uma plataforma de jogo. O Free Fire você pode jogar sem gastar R$ 1,00. É o modelo free-to-play que a gente chama.
FCB: No mercado atual, patrocinar eventos, colocar logomarcas em camisetas de times, estar dentro dos jogos, é suficiente para engajar o gamer?
Eu vejo, através de uma das empresas do grupo – uma consultoria especializada em games – que, quando é algo muito pontual, não vale a pena. Porque fica muito espaçado, e você não cria aquela relação “voleibol – Banco do Brasil”. Quando você pensa no voleibol como esporte tradicional, o Banco do Brasil patrocina desde sempre. Por exemplo, a Vivo tem um time que leva o seu nome, a partir daí, começa a se criar uma associação. Mas são investimentos long tail, do que algo pontual. A gente tem uma seção da Pesquisa Game Brasil que é “marca do coração” e percebemos que quanto mais oportunismo os gamers percebem nas marcas, maior distância eles têm quanto à apreciação dela.

Time de Valorant do clube Vivo Keyd (Crédito: reprodução Instagram/Vivo Keyd)
FCB: Qual marca hoje pode ser usada como referência de valorização pelo consumidor gamer?
Eu gosto muito da Red Bull por conta dessa preocupação que eles têm em relação à parte do conteúdo, de como apoiar tanto a equipe que produz conteúdo, como o apoio financeiro aos times. Eles têm um youtuber muito famoso, Flakes Power, como embaixador e porta-voz da marca. E, apesar de ser austríaca, a Red Bull tem uma área no Brasil que dá suporte aos pro-players.
O que a gente tem percebido é que as instituições financeiras estão começando a olhar para os gamers de uma outra forma. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma linha de crédito voltada para gamers. O Nubank está entrando com uma linguagem mais próxima desse universo. O Santander acabou de anunciar o patrocínio a uma liga. O Itaú também patrocina algumas arenas. Em termos de categoria, essa é a que está cada vez mais olhando o gamer como potencial consumidor do que eles dispõem.
FCB: E o que não fazer de jeito nenhum para se comunicar com esse público?
O gamer deixou de ser o adolescente e hoje é uma pessoa que toma decisões, menos ingênuo na relação com as marcas. Então, se for para surfar uma onda e entrar em um meme que não faz parte, a comunidade vai colocar uma barreira. Entrar nessa área sem embasamento, sem estudo e sem constante investimento é melhor não entrar. Se não, pode acontecer da marca acabar manchando a sua imagem perante os gamers, se colocando como marca oportunista.
FCB: E como a gamificação entra nesse contexto?
Hoje a gente só fala de gamificação, porque os games – como plataforma de comunicação – ficaram tão populares que as empresas perceberam que podiam aprender com os jogos – transformando situações internas não tão divertidas em oportunidades de engajamento. Basicamente todas as grandes empresas têm algum tipo de ação gamificada – seja dentro do onboarding, campanha de incentivo, treinamento de produto. E quando você coloca essa experiência do storytelling, cria essa relação do desafio, do benefício, da recompensa, você transforma uma experiência. Isso faz com que as pessoas interajam com conteúdo e consigam absorver de maneira mais fácil. A gente vê, cada vez mais, os game designers entrando nesse universo corporativo que era, até então, impenetrável. É a bola da vez do mercado pós-pandemia.

Aplicativo do Santander que gamificou uma disputa por 20 bolsas de estudo em Boston, desenvolvido pelo Sioux Group (Crédito: Divulgação/Sioux Group)
FCB: Gamificação é só coisa para gigantes?
A grande questão é você saber que o game é uma forma de comunicar, a gamificação é um meio de aumentar seu engajamento com seus consumidores, ela não é a solução. Então você precisa de um conhecimento, de pessoas que entendam do assunto, que tenham bagagem de vivência e repertório do que os games podem trazer para uma situação. E o mais importante: as pessoas acreditam que gamificação é colocar um minijogo, um quiz, é muito mais do que isso, é olhar o consumidor como uma jornada. Quando você vê o painel de um jogo como Fortnite, tem tanta informação ali, a quantidade de vidas, a velocidade, tudo junto. Como um game designer resolve isso em uma única tela? Isso é uma expertise que quem entende pode trazer para o universo corporativo. E o custo não é uma barreira, porque existem muitas plataformas que oferecem os recursos para gamificar, com base em assinatura, basta você ter o conteúdo.
FCB: E quais as perspectivas de crescimento pela frente?
A gente sempre capta a perspectiva do consumidor, e o que a gente percebeu é que a pandemia começou a modificar a forma como o gamer brasileiro consome os jogos. Quase 80% dos entrevistados na pesquisa afirmaram que compraram algum tipo de item dentro das plataformas de games. O público brasileiro é conhecido como um consumidor menos atrativo do que o americano ou europeu, porque ele tem mais restrição a esse tipo de consumo. Sempre que há uma versão paga e uma gratuita, o gamer brasileiro é conhecido por optar pela versão gratuita. Mas, na pandemia, começou uma mudança nesse padrão de comportamento de consumo.