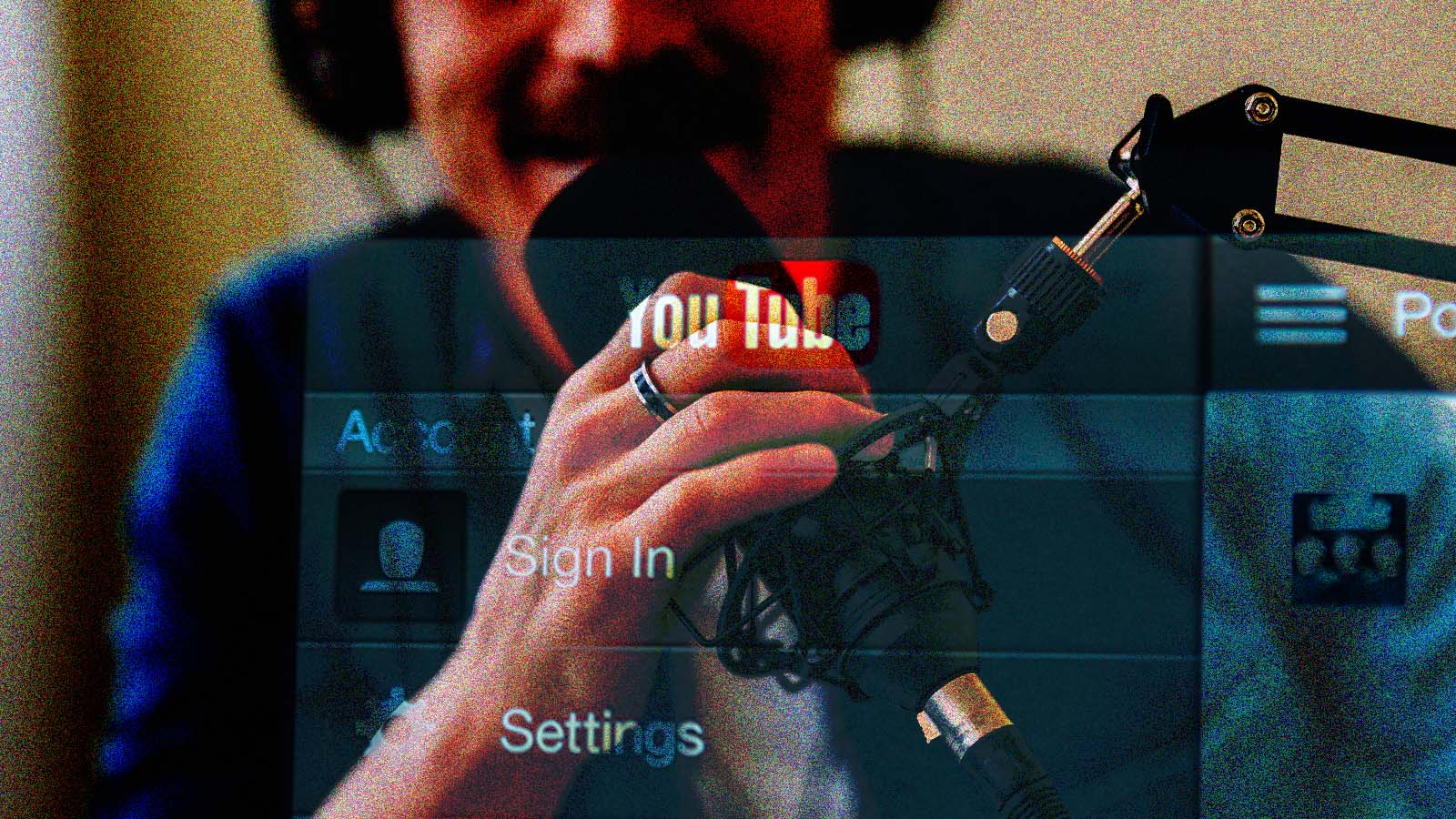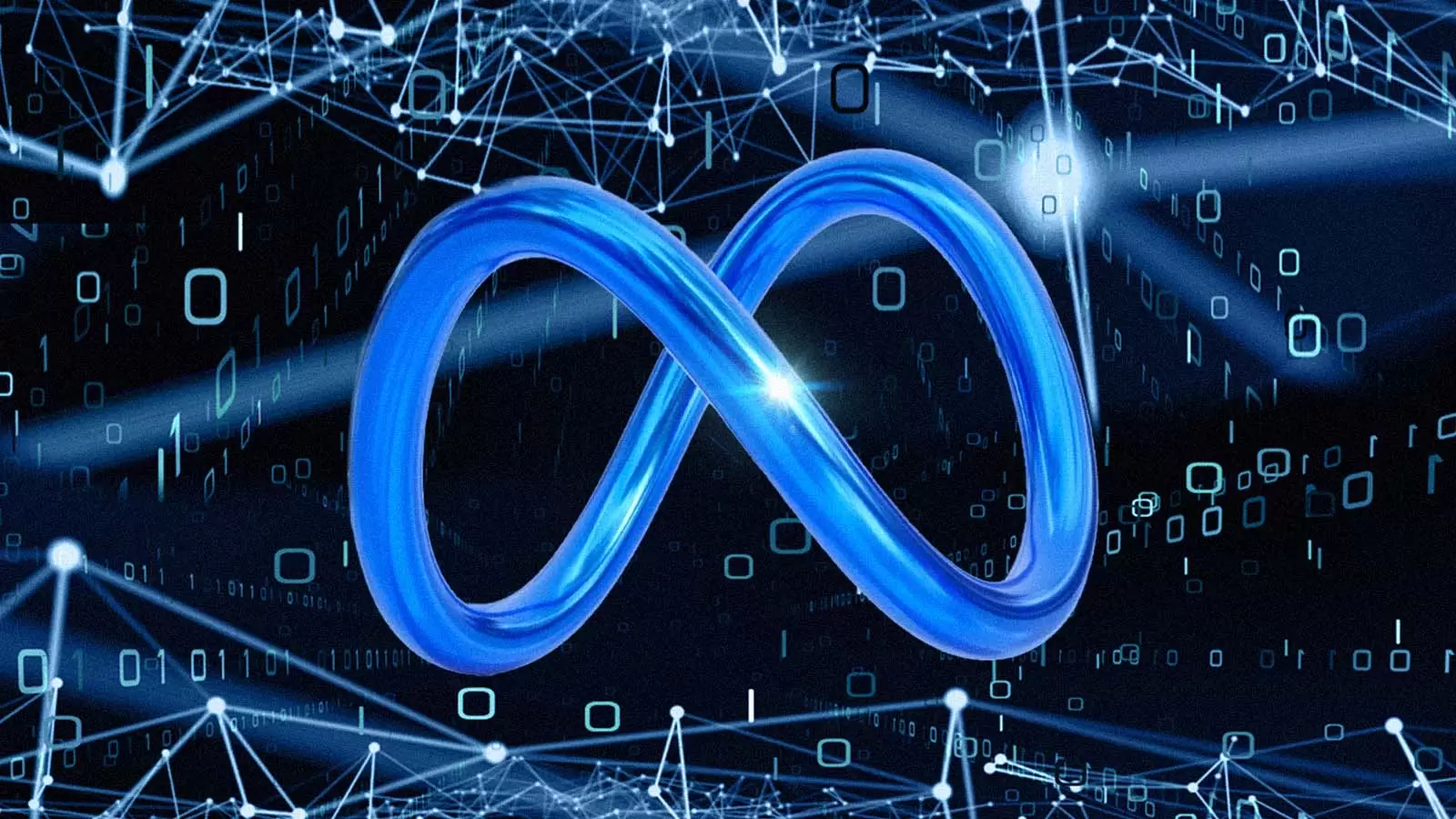O papel das telas na cultura do estupro

“O único modo de encontrar uma visão mais ampla é estando em algum lugar em particular”. A frase da filósofa e pesquisadora norte-americana Donna Haraway, especialista em áreas tão distintas quanto feminismo, tecnologia, primatologia e estudos pós-coloniais, está no prefácio de “A vida nunca mais será a mesma”, livro da jornalista Adriana Negreiros que nos oferece uma aterradora e profunda leitura da cultura da violência de gênero e do estupro no Brasil.
A obra, um tour de force sobre um tema que é transversal e inerente a existência de todas as mulheres (ainda que não restrito a elas), costura histórias particulares e as entrelaça a dados e análises sobre a recente evolução histórica e enquadramento jurídico em torno desse crime hediondo, que tende a envergonhar muito mais a vítima do que o criminoso. E se mostra ainda mais valoroso dado o feito ímpar da autora de, ao ter sido ela mesma vítima de um estupro — ao qual não se furta em detalhar com riqueza asfixiante de detalhes – fazer com que seu “lugar de voz” amplifique a capacidade de sua escrita de gerar empatia e, espera-se, compreensão sobre as raízes muito mais profundas e perversas desse tipo de violência que estraçalha mais a alma do que o corpo.
Adriana sublinha de forma irrefutável a correlação entre o caldo de cultura no qual estamos imersos e a inaceitável naturalização da cultura do estupro. Recorrendo a exemplos que à Geração Z podem parecer surrealistas, não tivessem alguns deles sido atrações recorrentes na grade da programação dominical das principais emissoras de TV aberta do país (quem, acima dos 35 anos de idade, não se lembra dos infames quadros “Sushi Erótico”, do Domingão do Faustão da TV Globo, ou “Banheira do Gugu”, no Domingo Legal do SBT?), a autora demonstra que, assim como o estuprador desumaniza a vítima ao usar seu corpo como meio para perpetrar sua perversão, a objetificação da figura feminina nas representações da indústria cultural, publicidade e redes sociais incentiva uma perspectiva unidimensional, reducionista e plana da mulher.
Adriana sublinha de forma irrefutável a correlação entre o caldo de cultura no qual estamos imersos e a inaceitável naturalização da cultura do estupro.
O olhar masculino (o “male gaze”, conceito popularizado na indústria cultural nos anos 70 pela teórica cinematográfica e feminista Laura Mulvey), que subordina a figura feminina ao ponto de vista do homem, numa relação de poder psicológico em que o observador se posiciona de forma superior em relação ao observado. E, consequentemente, subjuga o imaginário coletivo de homens e mulheres à bolsa de valores do mercado das aparências e padrões estéticos insustentáveis e daninhos.
Em toda regra há exceções, mas o livro de Adriana, de tirar o fôlego, fala sobre a sufocante realidade de um país cujo padrão, segundo dados do Anuário de Segurança Pública publicado em 2020, é o de um estupro a cada oito minutos. E, desde já, se insere no hall de publicações obrigatórias para quem ainda teima em classificar a violência de gênero como um problema das mulheres. E por sua pungente capacidade de, em meio a tanta dor e injustiça, fazer ecoar a voz de pessoas que, mais do que vítimas, são sobreviventes. Assim como para a autora, depois dessa leitura, nossa consciência enquanto leitores também não deveria nunca mais ser a mesma.

Mônica Charoux