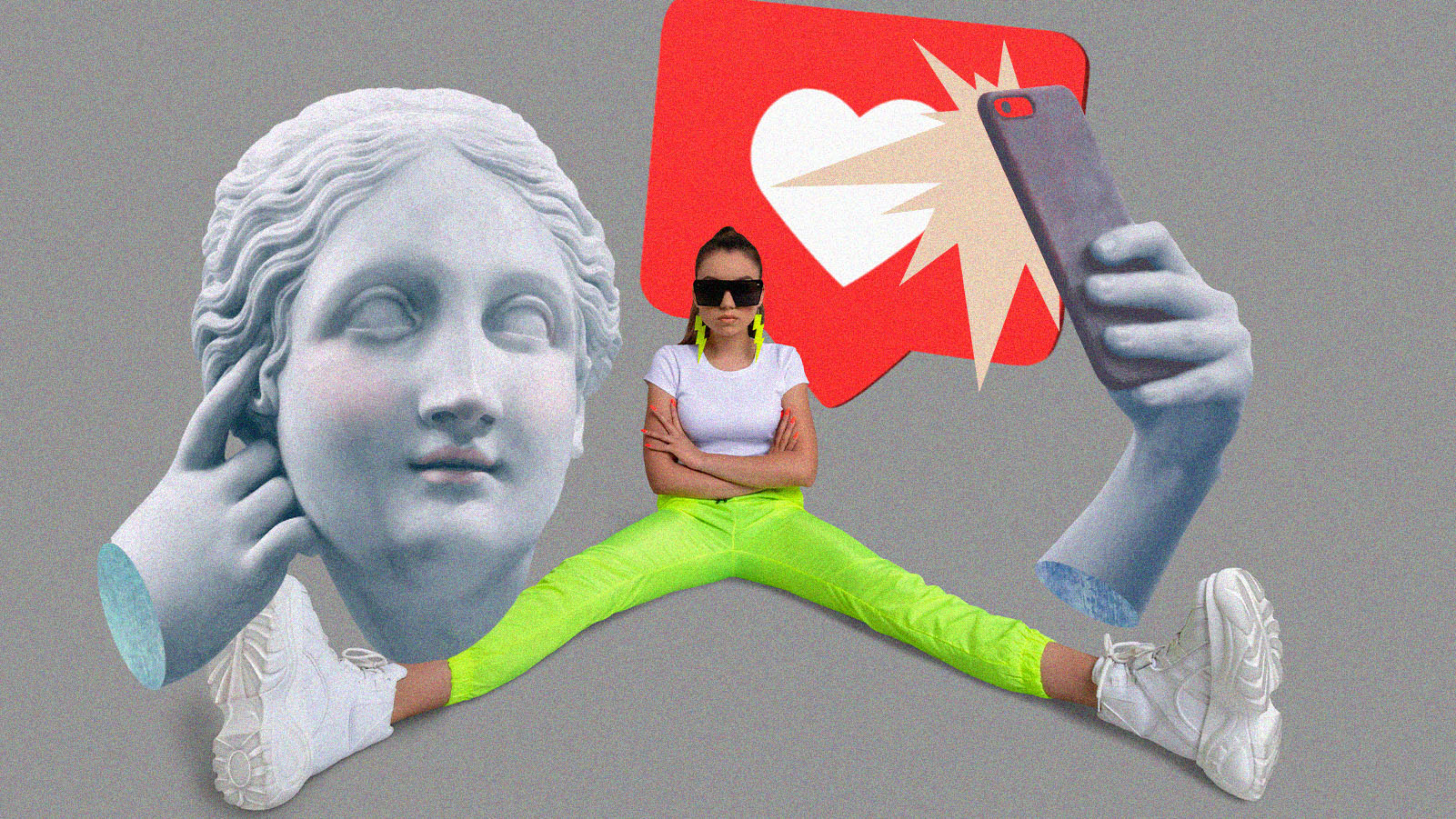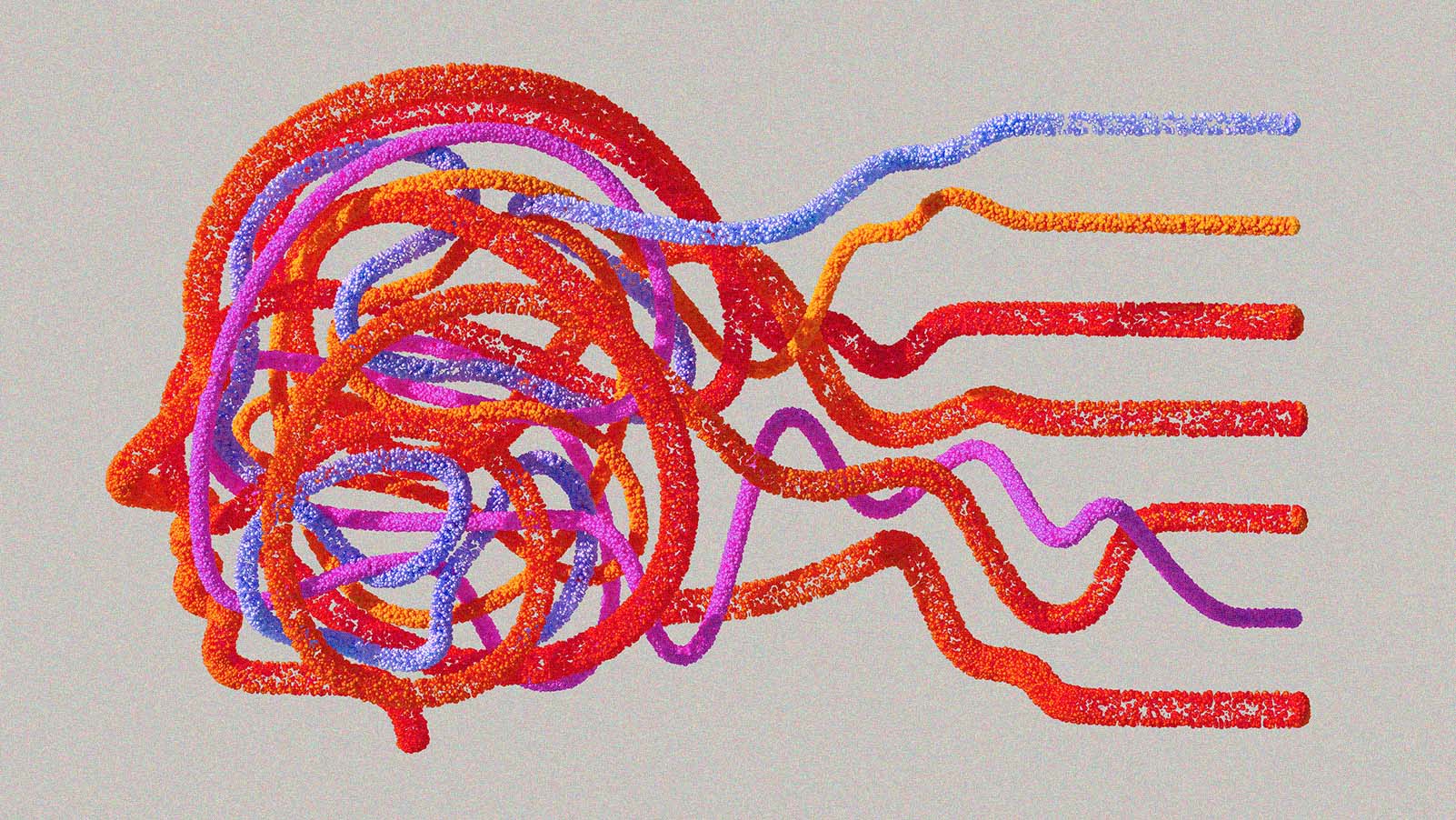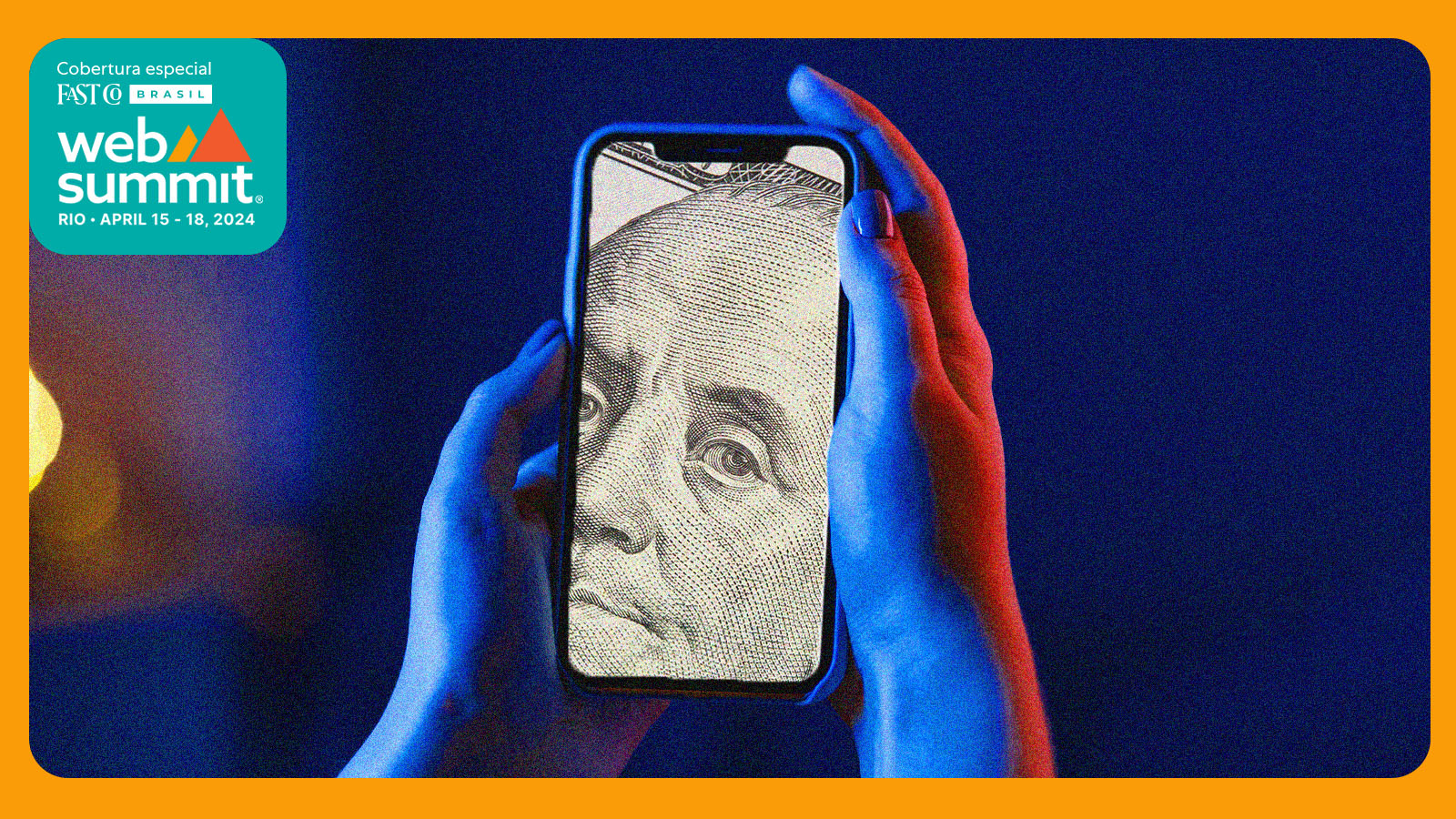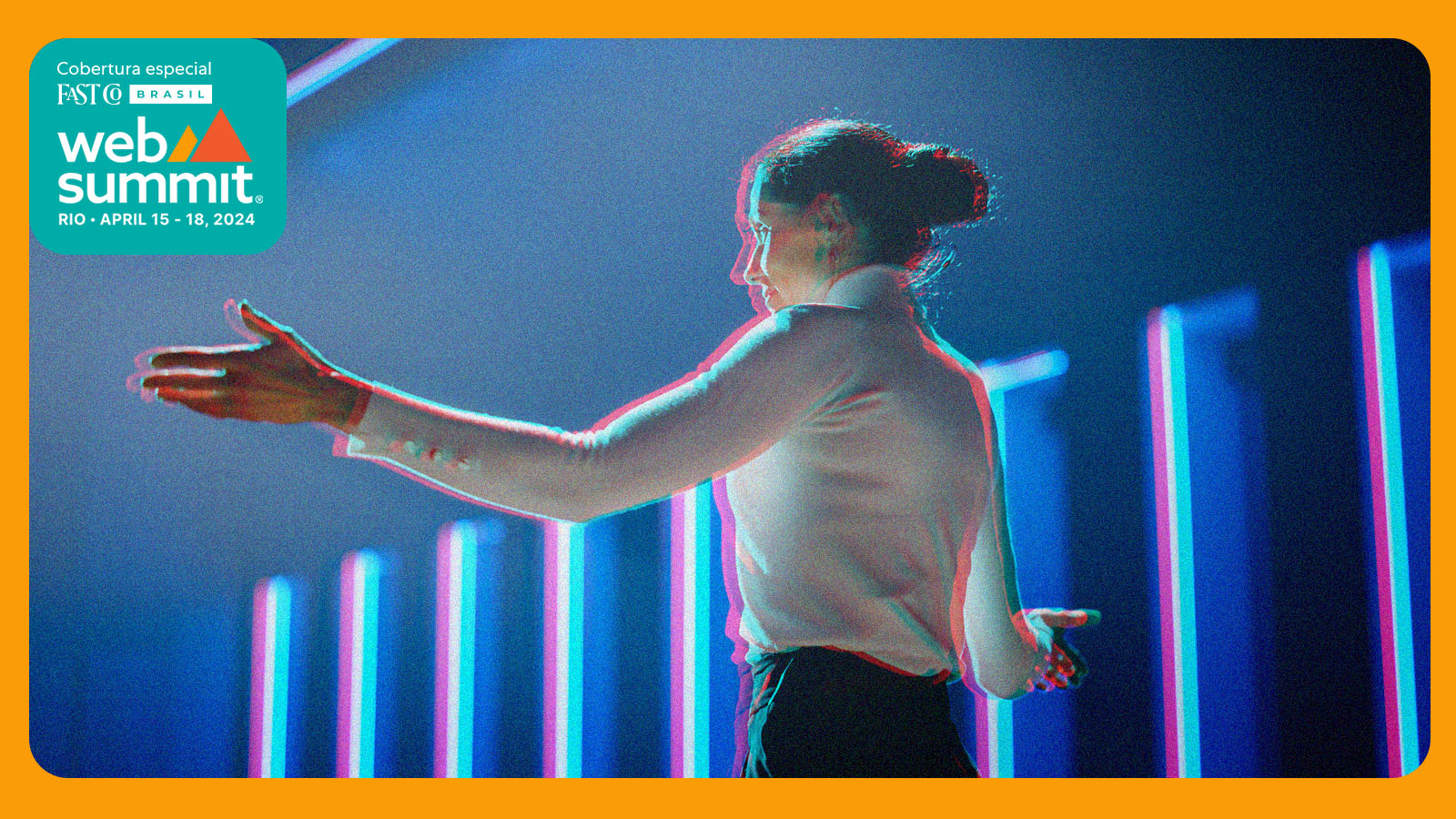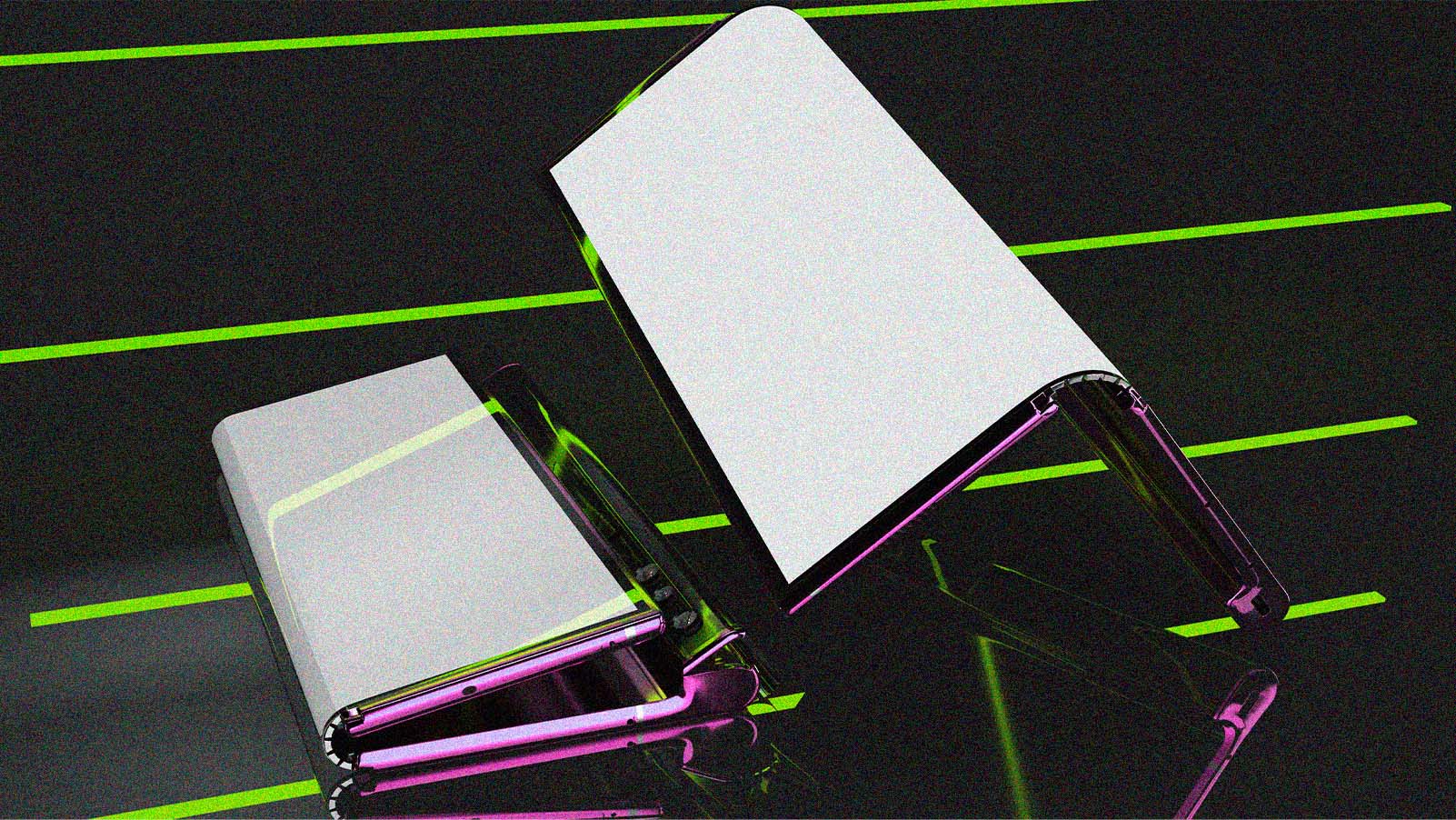Raízes do racismo digital remontam às ferrovias do século XIX

A personalidade mais reservada dos norte-americanos faz com que eles se esquivem de diversos enfrentamentos. A tendência a evitar temas inconvenientes é típica da nossa sociedade, especialmente quando se trata de questões ligadas ao racismo. Mas recentemente, até mesmo quem está acostumado a fazer vista grossa para esses assuntos têm visto coisas difíceis de ignorar.
Temos percebido que os novos mapas que distinguem as zonas mais afetadas pelo vírus e pelo aquecimento global, por exemplo, traçam os mesmos contornos sombrios dos bairros que eram marcados de vermelho no século anterior. Temos nos preocupado porque a tecnologia de reconhecimento facial não consegue identificar com precisão rostos negros e mestiços, o que acaba perpetuando e reforçando padrões históricos de apagamento e de exploração. Temos assistido ao fantasma das leis de Jim Crow (que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos) ressurgir, através das tomadas de decisão tendenciosas feitas por algoritmos. Esse “novo Código de Jim” – como foi batizado por Ruha Benjamin (socióloga e professora do departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Princeton) – vem sendo aplicado a decisões que envolvem habitação, compras online e até mesmo a justiça. É uma espécie de “redlining digital”, como chamou Safiya Noble, em referência ao período do início do século XX em que instituições financeiras norte-americanas costumavam literalmente traçar linhas vermelhas ao redor de bairros inteiros para os quais não concederiam empréstimos ou seguros imobiliários. Uma publicação recente, o livro Your Computer is on Fire, começa com uma afirmação que já se tornou lugar-comum: “é hora de prestar atenção à desigualdade, à marginalização e aos preconceitos tecidos pelos nossos sistemas tecnológicos”.
Todas essas preocupações contemporâneas revelam que a História segue padrões estruturais e sistêmicos, seja em nossas redes de transmissão de dados, de pessoas ou de cargas. O preconceito digital na era do computador segue os mesmos fundamentos racistas da rede transcontinental que lhe precedeu: de certa forma, a internet é uma ferrovia. Enfrentar o racismo digital requer, portanto, escavar esse passado.
UMA CAMADA POR CIMA DA OUTRA
Apesar da sensação recorrente de que a História consiste em uma série de acontecimentos seguidos uns dos outros, essa metáfora visual na forma de sequência é inadequada. Na verdade, a História consiste em camadas sobrepostas, uma por cima da outra. Fica mais fácil visualizarmos tais camadas quando descobrimos que foi a infraestrutura ferroviária que forneceu a linguagem das redes de telecomunicações, e que a palavra “online” não é uma analogia aleatória, mas sim uma associação que relaciona esses dois sistemas. Ou quando reconhecemos que os Estados Unidos avançaram às custas de passagens forçadas e de servidões nas margens dos trilhos – em terras desapropriados à força ou de forma ilegítima por todo o continente. Ou, ainda, quando nos damos conta de que os cabos de fibra óptica do século XX se sobrepuseram às linhas telegráficas do século XIX. Todas essas observações ajudam a enxergarmos que as redes digitais foram construídas por cima, e não para além, da camada das redes movidas a vapor.
Os alemães é que estão certos. A palavra que eles usam para História é die Geschichte, que carrega em si a palavra Schicht, que significa camada. Dito de forma metafórica, a História é um palimpsesto: textos antigos permanecem enterrados, tênues ou invisíveis. Dito em linguagem técnica, um palimpsesto é um pergaminho reutilizável, um material tão precioso que os autores apagavam e sobrescreviam textos anteriores na mesma página. Escrever sobre velhas superfícies era prático, assim como gravar novas camadas sobre a História é metafórico. Isso sugere que toda escrita acontece na presença de outra. “A superfície da terra é macia e se deixa imprimir pelos pés dos homens” escreveu Henry David Thoreau (1817-1862). “O mesmo ocorre com os caminhos por onde viaja a mente. Como, então, devem ser gastas e empoeiradas as estradas do mundo, como são fundos os sulcos da tradição e da conformidade”.
A metáfora do palimpsesto está especialmente sintonizada com a história da tecnologia, oferecendo-nos duas maneiras de entender quem somos na sociedade tecnológica. Em uma primeira análise, ela questiona as narrativas triunfalistas que consideram somente a camada superficial, e exige que reconheçamos que trabalhos novos se inscrevem sobre os sulcos de trabalhos anteriores. Isso ajuda a desmascarar o grande mito do homem (geralmente branco) “inovador”. Em sala de aula, ensinamos a engenheiros que a metáfora do palimpsesto é importante porque estimula a circunspecção e a humildade, já que ela nos lembra que estamos sentados nos ombros não apenas de gigantes, mas de trabalhadores comuns. Em uma segunda análise, a metáfora do palimpsesto trata de reconhecer que alguns aspectos da história da tecnologia estão enterrados – são “figuras ocultas”, cujas “histórias não contadas” precisam ser desenterradas.
Vencer as lutas do século XXI contra o racismo digital significa reconhecer suas camadas. No caso da internet, isso significa voltar à revolução industrial, bem como aos trens e aos fios que a sustentaram.
Comece se debruçando sobre a História claramente racializada das ferrovias do século XIX. Na Índia, os imperialistas britânicos instalaram primeiro as linhas telegráficas e, apenas em seguida, construíram os trilhos, de modo que o controle da comunicação levasse ao controle territorial. Eles fizeram quase a mesma coisa no sul da África. Nos Estados Unidos, a ferrovia forneceu um substrato para a conquista colonial e para a crença em um suposto “destino manifesto” – ou seja, na ideia de que os Estados Unidos estariam destinados por Deus a expandir sua dominação e a disseminar valores democráticos e capitalistas por toda a América do Norte. Afinal, a instalação dos telégrafos sempre vinha acompanhada da implementação de medidas de segurança e controle. Quando os magnatas das ferrovias construíram novos caminhos para o oeste, as antigas fazendas de gado passaram a servir como grandes depósitos de trens em Kansas City, Topeka, ou Dallas, o que significa que a rede ferroviária foi construída por cima dos caminhos feitos anteriormente pelos animais, no período agropecuário. Desde a época dos trens, portanto, aquelas redes já estavam sendo escritas sobre outras redes.
Assim como nós, hoje em dia, superestimamos os titãs da tecnologia e glorificamos os aplicativos “todo-poderosos”, no século XIX o heroísmo dos trilhos se inscreveu como um modelo na identidade cultural dos norte-americanos – a ponto de ter obscurecido os sulcos mais profundos do trabalho marginalizado e da desigualdade.
O capítulo central desta hagiografia foi a conclusão da ferrovia transcontinental. Você deve ter aprendido na escola que foi Leland Stanford, o magnata das ferrovias, quem colocou o último espigão em Promontory (Utah), em 1869, cumprindo a promessa da expansão continental. A transcontinental ligava trilhos que haviam sido colocados por trabalhadores chineses, irlandeses, negros e nativos, alguns dos quais protestavam contra suas condições de trabalho na época – um aspecto histórico que ficou apagado pelo hype de Utah. Um fio telegráfico eletrificado transmitiu os golpes simbólicos do martelo que colocou o último prego no lugar, embora o próprio Stanford tenha se desequilibrado, errado o prego e pedido a outro trabalhador anônimo que completasse o trabalho. Um telegrama contendo apenas uma palavra, “pronto”, foi enviado para dar a notícia à nação.
Esta história triunfalista que representa o auge da ideologia norte-americana do “destino manifesto” passa por cima dos trabalhadores cujo trabalho era invisível. Os livros escolares também se concentram no apogeu, e minimizam os trabalhadores. Enquanto os assistentes de vagão que serviam os passageiros brancos estavam às vistas de todos, os demais trabalhadores negros, como os guarda-freios e os bombeiros, permaneciam nos bastidores. A História em seu nível superficial também esconde a narrativa daqueles que foram deslocados das terras recém-atravessadas pela tecnologia. A metáfora do sepultamento também é, em muitos casos, literal: milhares de mortes ocorreram ao longo dessas ferrovias, e muitos trabalhadores foram enterrados ali, como espectros da conquista e do “progresso” tecnológico. Uma das imagens mais icônicas da época ilustrava o slogan “Para o Oeste, o curso do império segue seu caminho”. Na imagem, assim como em um palimpsesto, a ferrovia “civilizadora” atrai nossos olhos para a azáfama industriosa de uma cidade ferroviária, já que a cena à direita mostra exatamente o que é dito pelo slogan. Mas nessa mesma imagem de Frances Flora Bond Palmer, amplamente reproduzida, há um detalhe nada sutil: a fumaça da locomotiva sopra diretamente nos rostos de uma dupla indígena a cavalo.

(Crédito: Currier and Ives/National Gallery of Art)
O colonialismo tecnológico americano forneceu as ranhuras nas quais os novos sistemas foram gravados. A opressão racial era parte integrante do desenvolvimento das ferrovias. E essas ranhuras foram entalhadas ainda mais profundamente na passagem do mecânico para o digital.
DE ALEXANDER GRAHAM BELL AO TIKTOK
Considere a atual gigante das telecomunicações American Telephone & Telegraph, que surgiu em 1880 a partir da empresa que Alexander Graham Bell havia fundado. Considere também outro legado de longa duração deixado por Bell: a Bell Laboratories. Fundada em 1920, a mítica “fábrica de ideias” e “meca” da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foi celeiro de Prêmios Nobel e nos trouxe adventos como o laser e o transístor – um semicondutor de germânio, artefato de meados do século, coinventado por William Shockley. Na década de 1950, com um desses Nobel em mãos, Shockley fugiu para a Califórnia com uma equipe de estrelas da engenharia, e decidiram focar em uma linha acima na tabela periódica, começando a semi- conduzir com silício. Pois foi exatamente essa mudança na escolha do metalóide que, futuramente, originaria o nome do hoje tão conhecido “Vale do Silício”.

Modelo do primeiro telefone de Alexander Graham Bell (Crédito: Daderot/Wikimedia Commons)
A partir daí, as coisas se sobrepuseram muito rapidamente às redes estabelecidas no século anterior — e de maneiras que transformariam o Vale do Silício, em si, em nosso modelo de rupturas e de mudanças aceleradas. O famoso recrutador Robert Noyce, da Shockley, decidiu deixar tudo para trás e reunir um bando de colegas para abrir sua própria empresa, a Fairchild Semiconductor. Foram tantas as empresas novas que derivaram da Fairchild — sendo uma delas a dos circuitos integrados de Noyce, conhecida como Intel –, que elas passaram a ser chamadas popularmente de “Fairchildren”. Se essas empresas deslancharam inicialmente foi principalmente graças a contratos governamentais financiados pelos contribuintes, muito embora o mito de seu sucesso carregue até hoje uma aura libertária. De modo semelhante ao que havia ocorrido com a imagem dos magnatas ferroviários, cujo sucesso só foi possível por causa das concessões de terras do governo e das escoltas militares, os “Fairchildren” também conseguiram de algum jeito apagar a memória social do enorme investimento público que viabilizou sua fortuna privada. Em ambos os casos, a noção romantizada do pioneiro solitário soterrou toda a participação pública, bem como as suas figuras ocultas. É um apagamento que o historiador Nathan Ensmenger aponta como central para sustentar o mito da “cultura tecnológica” de hoje, ao explicar que a Amazon e os serviços digitais do século XXI se apoiaram nas costas de redes materiais construídas há muito tempo.
A proximidade do Vale do Silício com a Universidade de Stanford não se deu por acaso. A universidade de Palo Alto foi fundada com o dinheiro do magnata das ferrovias Leland Stanford. As ferrovias não apenas substituíram as redes por telégrafos e depois por telefones. Foi o dinheiro ferroviário que patrocinou a Universidade de Stanford, que incubaria tantos filhos dos “Fairchildren” e que desempenharia papel crucial ao costurar a rede de redes, aquela que se tornou uma inter-rede: a internet.

Estátua na Universidade de Standford, cerca de 1900 (Crédito: Daderot/Wikimedia Commons)
Entre os professores de Stanford estava William Shockley, o tal co-inventor do transístor. Ela começou a lecionar depois que seus funcionários o abandonaram. Shockley tinha crenças racistas virulentas, um racismo que não pode ser ignorado ou desconsiderado só por causa dos avanços tecnológicos para os quais contribuiu. Afinal, esse racismo permanece enterrado na cultura dos sistemas que ele ajudou a construir, assim como foi incorporado às estruturas em que esses sistemas se baseiam. (Em artigo para a revista Wired, Scott Rosenberg discute essa problemática da “cultura pontocom” e questiona: é tudo culpa de Shockley?) Foram as suas aulas com toques de eugenia – junto com as de Fred Terman – que por muito tempo ajudaram a educar futuros engenheiros e magnatas da tecnologia na escola de Leland Stanford. Percebendo a filiação histórica comum, a escritora Ingrid Burrington observou em texto para a revista The Atlantic o quanto a camada digital está assombrada pela mecânica, e constatou “investigar as infraestruturas das redes na América é como procurar por fantasmas”.
O colonialismo tecnológico não pertence ao passado; ele está sob os nossos pés. Assim, quando nos conectamos à rede, estamos andando sobre trilhos. Mais especificamente, quando descobrimos estruturas racistas por trás daquilo que um dia foi chamado de “a super estrada da informação”, reconhecemos nosso lugar em uma história de muitas camadas. Os recursos modernos da comunicação pela Internet foram construídos nos sulcos das redes ferroviárias. Financeiramente, intelectualmente e até fisicamente.
Uma aquisição corporativa feita pela T-Mobile no ano passado nos deu uma chance arqueológica de ver essas ranhuras expostas e, em seguida, reinscritas. A T-Mobile é uma gigante das telecomunicações, descendente das redes postais alemãs. Ela buscou competir com suas duas maiores rivais, a AT&T e a Verizon, incorporando a Sprint em abril de 2020. Nessa transação, os clientes perderam de vista uma conexão importante com as maneiras como os sistemas tecnológicos modernos se sobrepõem e se sobrescrevem. O fim da Sprint obscureceu um pouco da história, rabiscando-a com a da T-Mobile. Enquanto isso, o The New York Times proclamou que um novo gigante sem fio nasceu, mitificando como “nova” e como “recém-nascida” uma indústria que, na verdade, é só a camada superior da der Geschichte.
Esse apagamento no palimpsesto não foi acidental. As origens da Sprint estão nas redes da era do vapor. Por um século, a Southern Pacific Railroad alavancou suas propriedades sendo financiada pelos contribuintes, com direito a desapropriar as terras que estivessem na passagem de seus trilhos. Em um esforço para escrever outra camada em sua história, a SPR enterrou as linhas de transmissão por ondas eletromagnéticas para construir os novos caminhos de comunicação de alta velocidade que se seguiram aos trens. Esse esforço veio acompanhado de uma mudança de nome. Eles passaram a se chamar Telefonia de Rede Interna da Ferrovia do Pacífico Sul, que se logo se transformou em seu acrônimo dos anos 1970: SPRINT.
Existem mais peças nessa história que nos trouxe do telégrafo ao semicondutor – e, depois, até os microprocessadores, microchips, placas-mãe, dial-up, wi-fi e TikTok. Mas, embora nenhum caminho estivesse pré-ordenado, eles sempre foram aqueles que oferecem menos resistência, já que “os sulcos da tradição e da conformidade” fornecem a estrutura, os métodos e as desigualdades que tornam possíveis os desenvolvimentos posteriores. Então, a internet é uma ferrovia por conta das analogias, das ressonâncias e da persistência do racismo. A rede foi escrita sobre sua versão anterior. Ao escavar essa História, podemos revelar o que foi enterrado e pensar em como construir algo verdadeiramente novo.
É possível que o trabalho de desenterramento esteja começando a ganhar força, já que 2020 não foi apenas um ano de reavaliação das estruturas em camadas da história, mas, como não poderia deixar de ser, foi um ano de lucidez. Os americanos lutaram com as raízes históricas da injustiça racial, olhando para trás e enxergando novamente as leis de Jim Crow, as linhas vermelhas dos guetos e as da própria escravidão. Tudo isso na tentativa de entender os impactos desproporcionais do vírus, as condutas policiais, os algoritmos tendenciosos e os efeitos das mudanças climáticas em populações historicamente marginalizadas. Foi um ano tanto de escavação quanto de acerto de contas. Poderia não ter demorado tanto, se não fosse pela persistência de uma mitologia empenhada em valorizar o progresso da fumaça, enquanto mantinha as suas toxinas que faziam tossir fora de cena. Ou enterradas, embaixo da vista. “A maioria dos americanos nunca ouviu falar do colonialismo dos pioneiros, muito menos usaria o conceito de colonialismo para descrever seu país”, escreve o romancista Viet Thanh Nguyen. “Isso porque os americanos preferem chamar o colonialismo dos seus pioneiros de ‘sonho americano’.” Nos termos de Priya Satia, somos “reféns do mito”.
Uma dessas histórias de heroísmo branco foi a da Ferrovia Subterrânea que foi, para usar uma frase de Kathryn Schulz, “não exatamente um mito, mas uma mitificação”. No seu alvorecer, o significado cultural do trilho era tão proeminente, tão dado como certo, que deu origem às suas próprias metáforas. Uma ferrovia “subterrânea” seria escondida, enterrada, invisível. Harriet Tubman e seus colaboradores sabiam o que estavam fazendo.
Mas o escritor Colson Whitehead também sabia muito bem o que estava fazendo quando escolheu materializar essa metáfora em seu romance vencedor do Prêmio Pulitzer. Em The Underground Railroad, um personagem maravilhado com a engenhosidade daquela estrutura física se pergunta quem poderia tê-la construído. Um agente da estação responde secamente: “quem constrói alguma coisa neste país?” A resposta tácita era: pessoas escravizadas, que as indústrias obrigavam a trabalhar, e cujo trabalho tornou as proezas econômicas possíveis para outros americanos. Em sua narrativa, Whitehead faz da própria escravidão uma máquina: “Era um motor que não parava, sua caldeira faminta alimentada com sangue”. “O motor implacável de algodão exigia seu combustível de corpos africanos … Os pistões deste motor moviam-se sem piedade.”
ABAIXO DE TUDO O QUE PARECE NOVINHO EM FOLHA
A economia digital do século XXI não operou nenhuma ruptura nítida com as eras tecnológicas anteriores; ela foi construída não adiante, mas sim por cima das redes anteriores. As coisas não são tão novas quanto os pretensos disruptivos, aspirantes a Grandes Homens, querem que acreditemos. A AT&T e a Sprint carregam dentro de si o nexo dual entre comunicação e transporte de suas origens. Para tornar isso mais nítido, um mapa do historiador Nathan Ensmenger ilustra a sobreposição da NSFNet (a Internet antiga) bem por cima dos caminhos da Southern Pacific Railroad. Não destacados, mas também presentes, estão ali os data centers localizados em pequenas cidades, como Council Bluffs, Iowa. Como Burrington explica, essa seria uma escolha estranha, exceto pelo fato de lá ter sido o terminal leste da Union Pacific Railroad. Ou seja: continuou sendo assim.

(Crédito: Cortesia de Nathan Ensmenger)
O racismo subjacente às redes ferroviárias é o racismo presente no viés digital. Ele atua em ambos os sentidos do palimpsesto como algo subterrâneo, o que permite que os gurus da tecnologia de hoje sejam celebrados e recompensados só porque são aqueles que adicionaram a última camada. No caso os trens, foi o trabalho que construiu a rede, os trabalhadores e as pessoas deslocadas e mortas ao longo do caminho; no caso da internet, o trabalho empregado na construção das redes também é invisível, bem como as formas de discriminação embutidas na estrutura de código e algoritmos.
Reforçando meu argumento, nós não deveríamos ter que esperar cinquenta anos para aprender sobre as mulheres negras cujos cálculos permitiram que os tripulantes da Mercúrio 7 da NASA se tornassem heróis nacionais — mas que permanecem invisibilizadas. Nem para “descobrir”, décadas depois, que “os profissionais da informação da América Latina têm sido essenciais para a indústria de telecomunicações desde os anos 1970”, como explica Joy Rankin. Nem para desenterrar tardiamente as contribuições de pioneiros negros das redes de computadores e da codificação, descritas em Black Software, de Charlton McIlwain — contribuições essas que foram sobrepostas pela narrativa dominante de jovens brancos empreendendo em suas garagens.
Do ponto de vista estrutural, quando falamos em racismo sistêmico, é isso mesmo: esses são os sistemas. Compromissos de infraestrutura do século XIX e seus atos de sepultamento estão nos encarando enquanto confrontamos a dinâmica racista da era da codificação, dos algoritmos e da mídia social. Rasuras, como as chamamos, é quando os escritores pegam a ponta rosa de seus lápis para apagar as marcas do passado.
Quando no iludimos por tudo o que parece novinho em folha, deixamos de considerar as pessoas, os eventos, o contexto e os valores históricos nas camadas mais profundas do palimpsesto. Sim, para repetir um clichê, os alunos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática aplicada devem aprender as Histórias da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. Mas também deveriam estudar os valores embutidos e codificados na História em camadas tecnológicas. Afinal, é improvável que alguém pense em construir uma rede social antirracista, por exemplo, se esse alguém não compreende o quão profundamente arraigados os valores racistas estão nos atuais.
Os sulcos de que o poeta (e historiador) Thoreau nos fala sugerem um ponto de tensão: os sulcos profundos da tradição e da conformidade são as histórias que continuamos contando — o mito de que grandes homens brancos construíram este mundo, por exemplo; o mito de que a nossa era está indo muito além (não apenas que está por cima) das anteriores. Mas podemos trilhar um novo caminho, observando o palimpsesto e reconhecendo os detalhes ocultos.