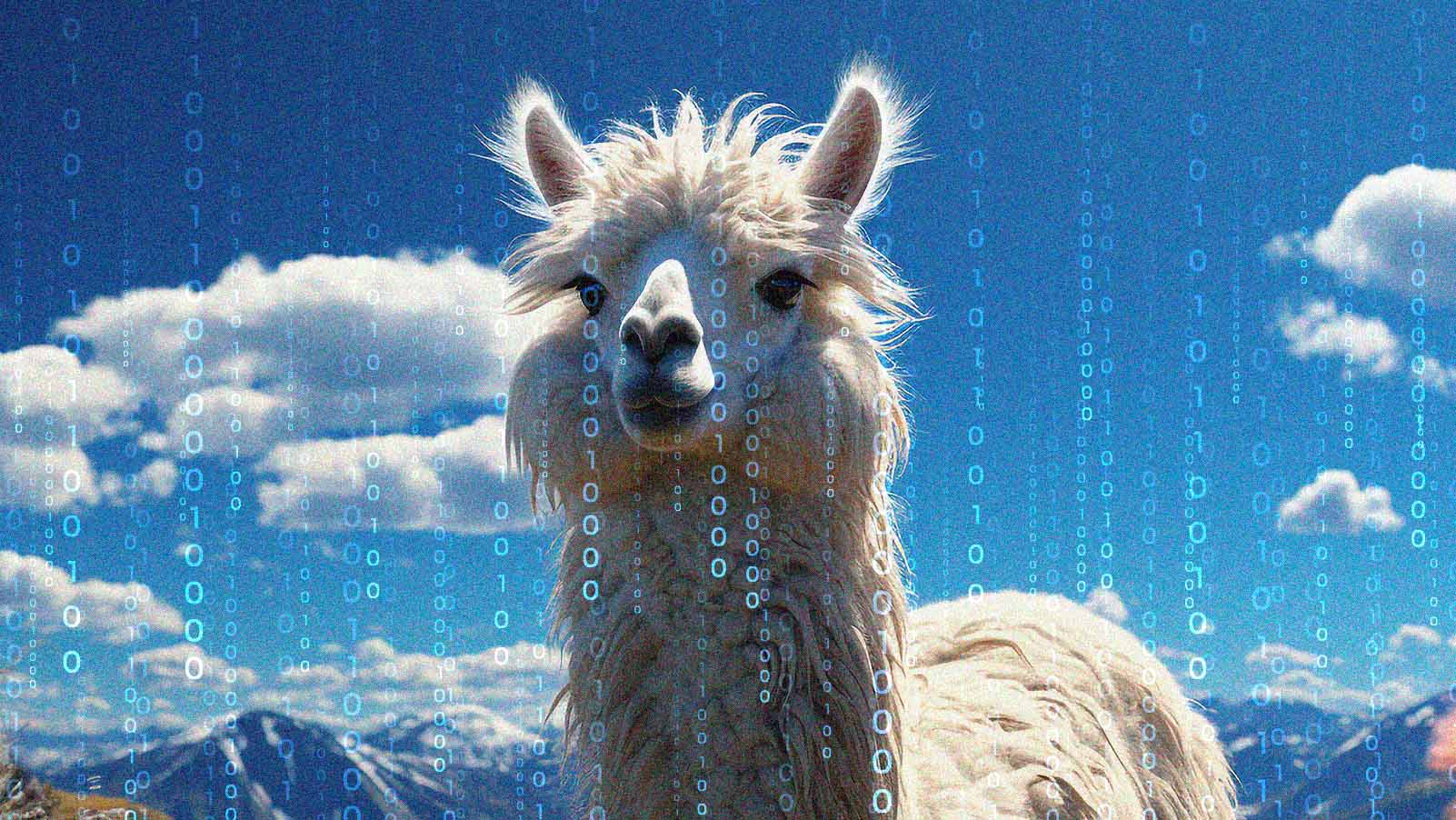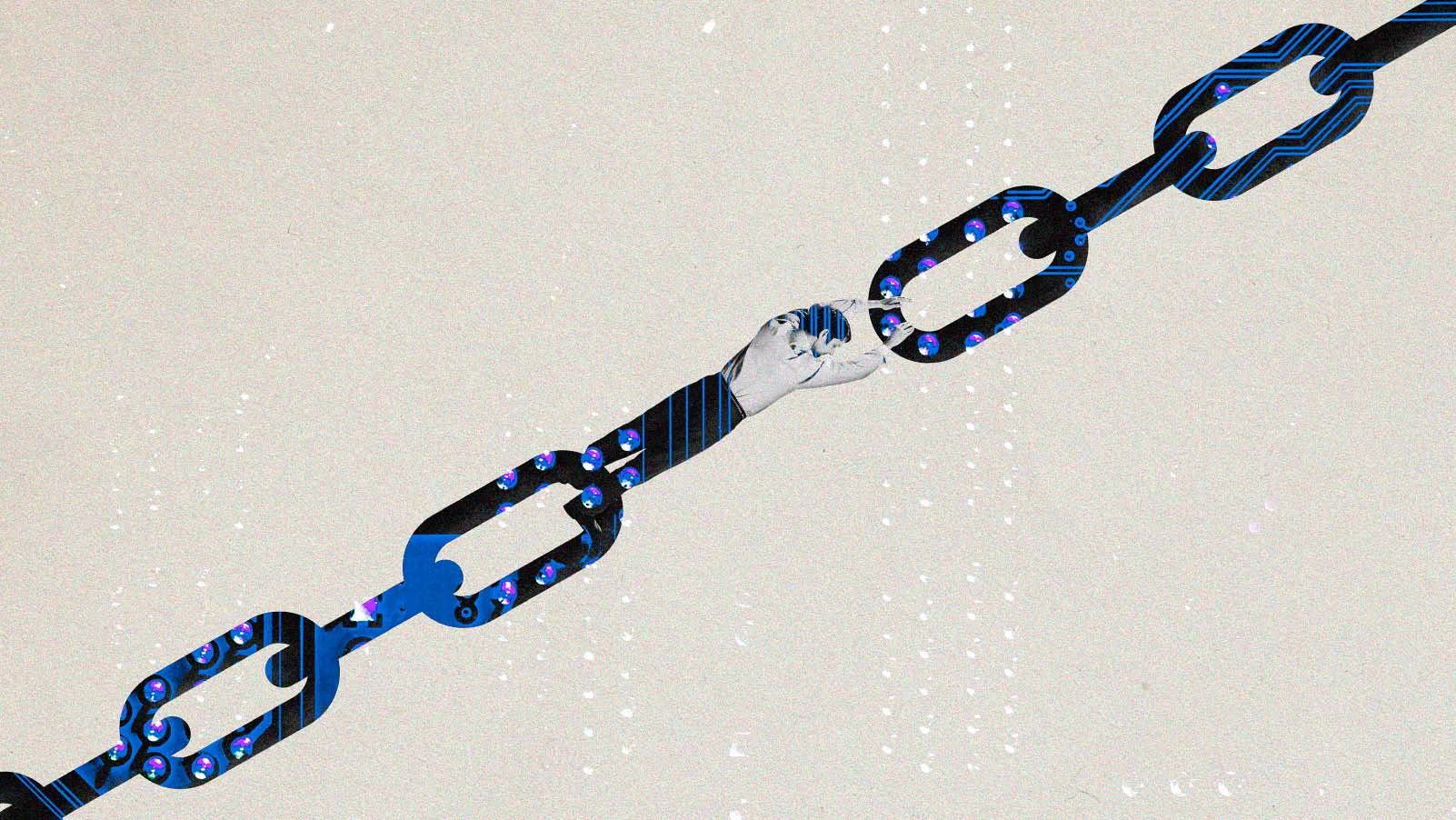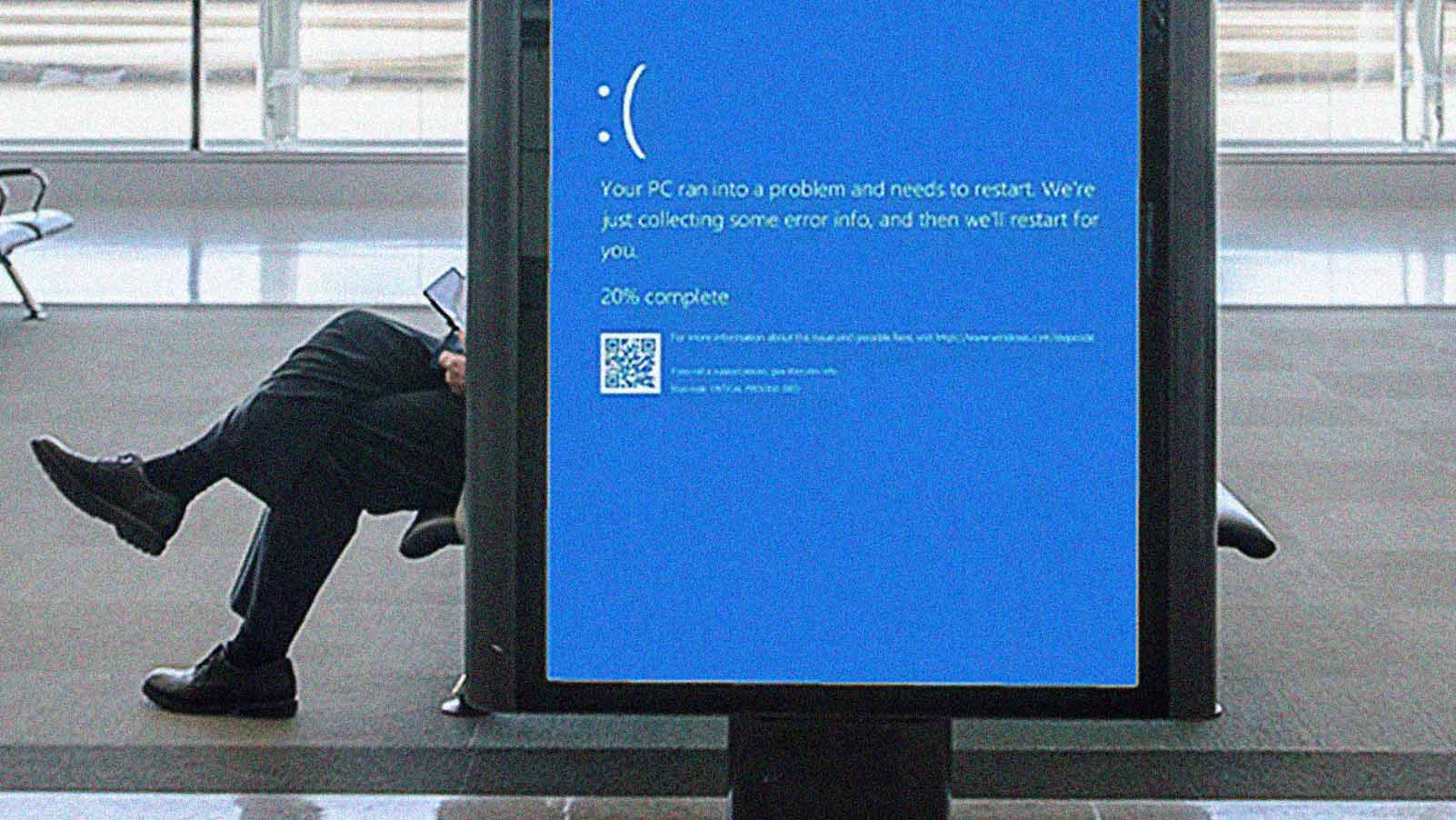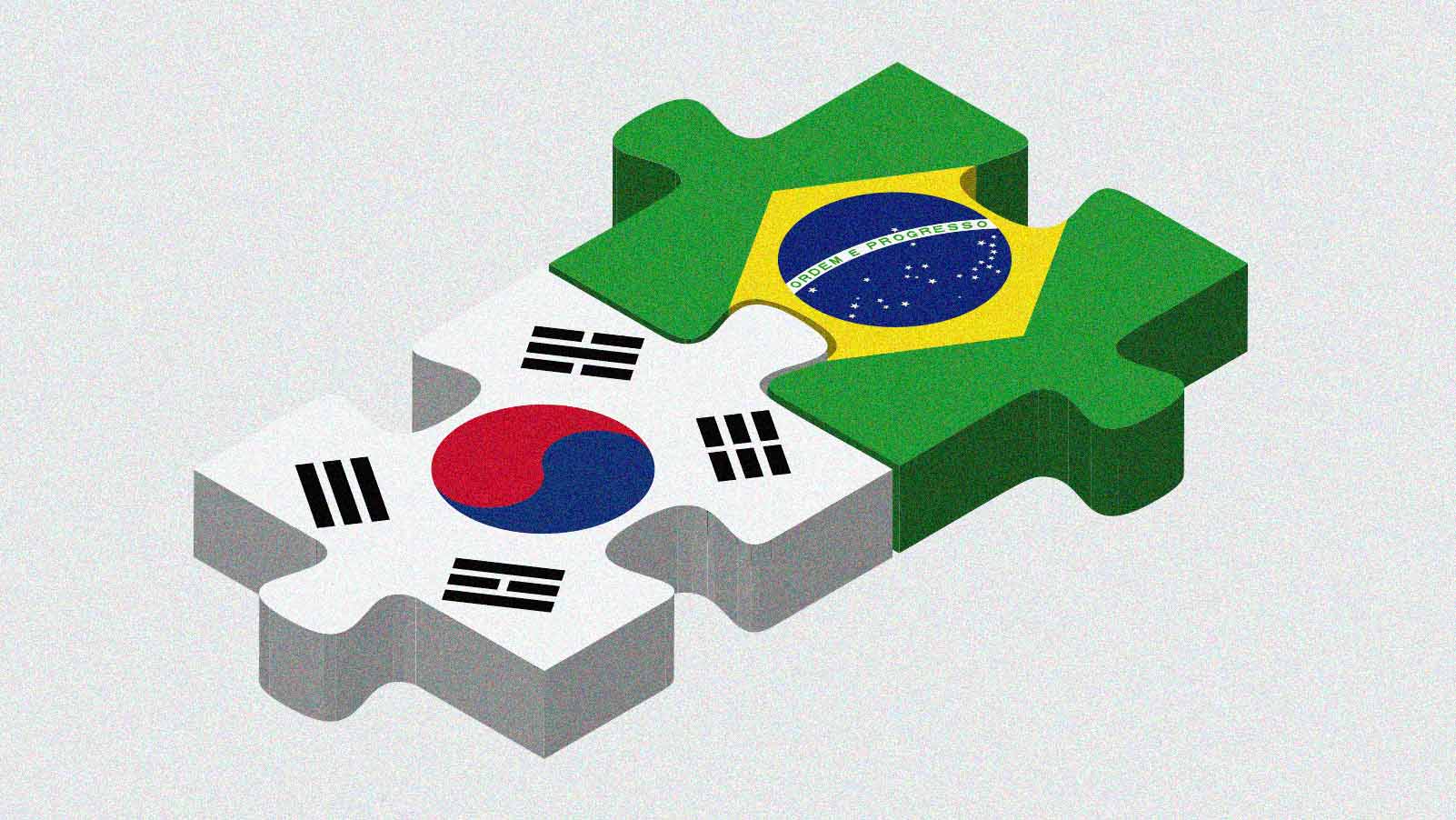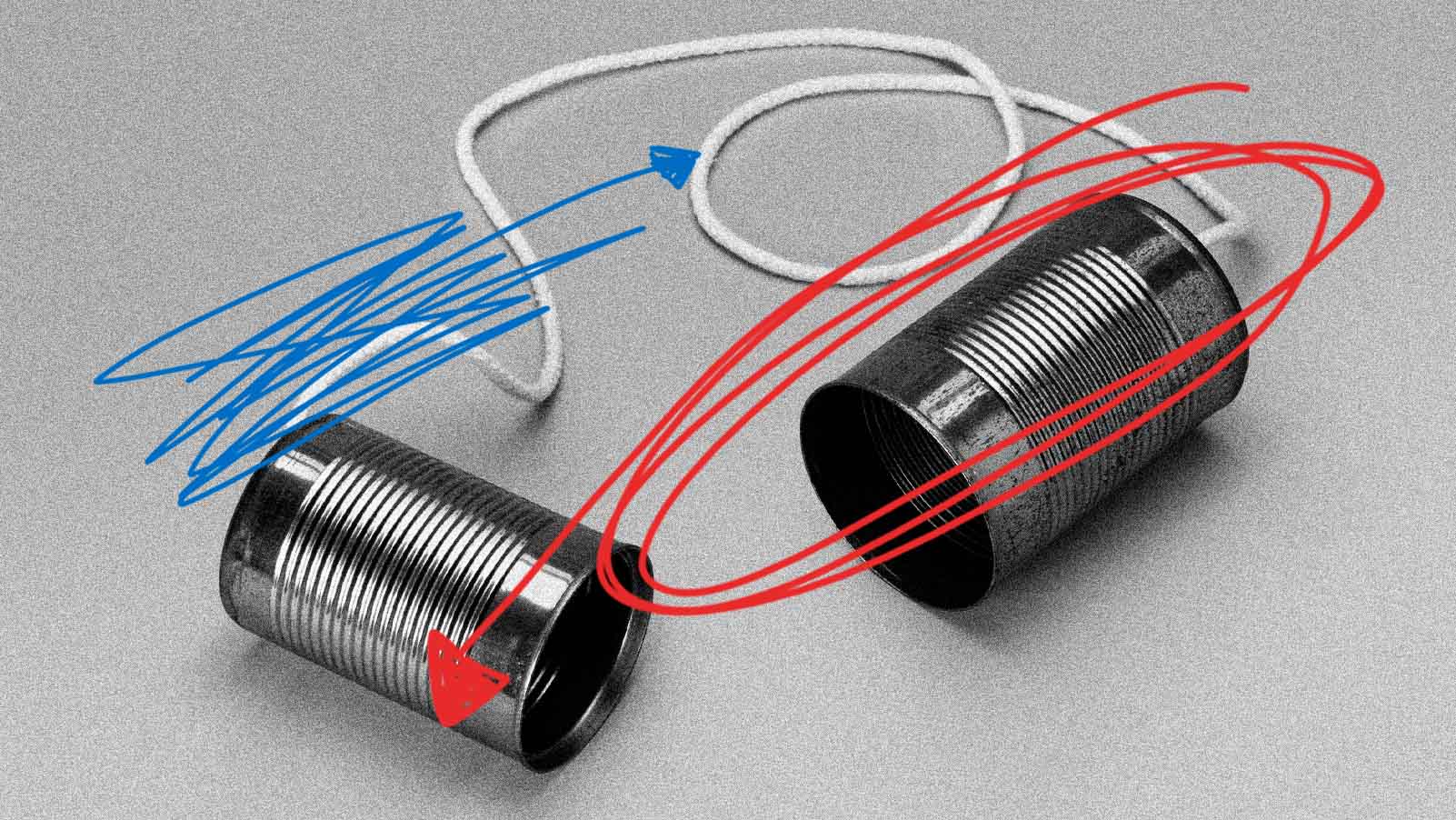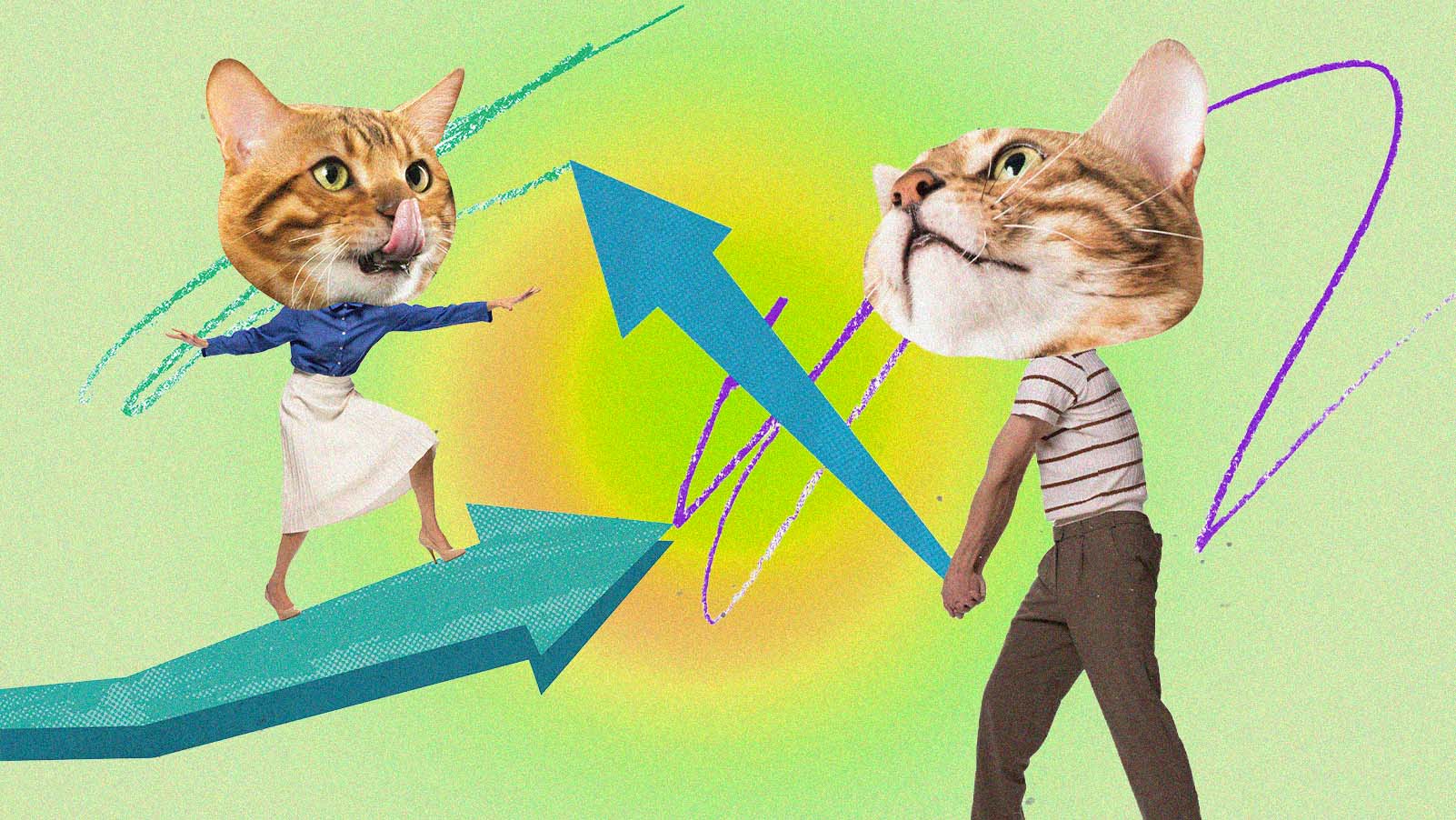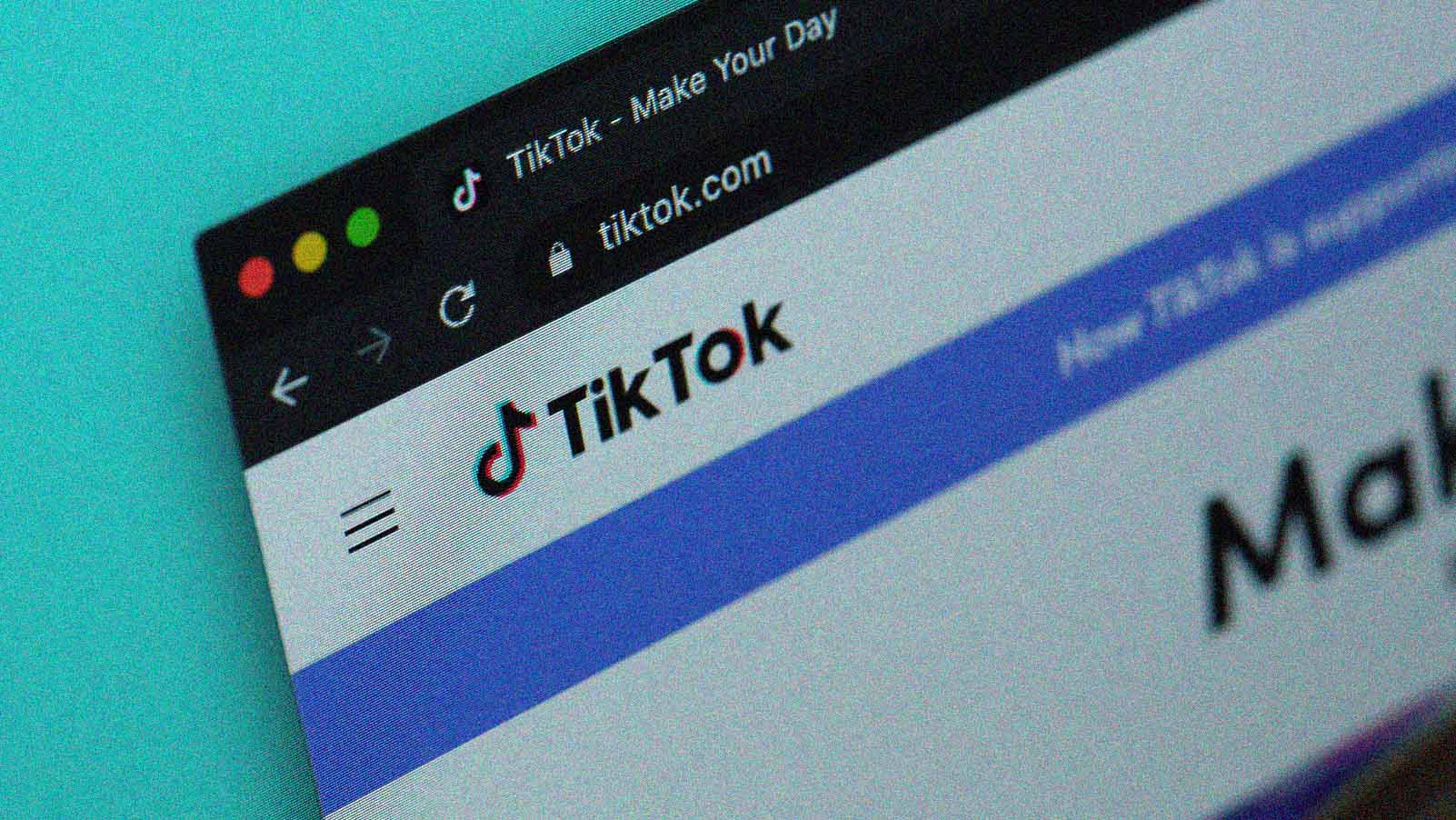(Des)atendimento preferencial

Quando mais jovem lembro de me sentir deslocada, até mesmo intimidada, ao entrar numa loja, geralmente de uma grife cara ou hypada, e ser olhada de cima por atendentes que claramente estavam fazendo hora enquanto não estouravam nas passarelas. Beldades altas, esguias, de longos cabelos lisos e pele impecável, com aquele olhar de enfado e ceticismo sobre a possibilidade de uma venda. Essas lembranças hoje são quase anedóticas, não fosse um detalhe nada pequeno: sou uma mulher branca, de classe média-alta, magra, considerada bonita pelos padrões estéticos convencionais, ainda que baixinha, de sardas e cabelo armado. E meu estilo por vezes mais despojado de vestir em nada sugere que eu não tenha como honrar a fatura do cartão de crédito.
Por mais memoravelmente incômodas, eventuais esnobadas de vendedores arrogantes ou desmotivados não me permitem estabelecer paralelo com o preconceito e a discriminação dissimulados em forma de tratamento “diferenciado” dedicado, não poucas vezes, à maioria dos consumidores, negros e pobres, do nosso país. Por não sentir na pele o peso das dificuldades impostas pelo racismo e o classismo, tenho o dever de ser cada vez mais consciente do meu privilégio. E, a partir dessa consciência, atenta aos sinais e manifestações dessa desigualdade, usando os espaços de expressão de que disponho para questioná-la e advogar pelo antirracismo. Afinal de contas, como nos ensina Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.
Assim como os brancos, por sermos beneficiários de uma sociedade racista, temos o imperativo moral de trabalhar ativamente pela igualdade racial, o mesmo se aplica às empresas, por sua capacidade ímpar de serem impulsionadoras de transformações sociais. Para além das expectativas dos consumidores que, como indicam inúmeros estudos, querem produtos e serviços embalados por propósitos que vão além da sua função, as empresas têm o dever de criar um ecossistema que promova o progresso de seus funcionários para além das questões trabalhistas. Mais do que prover as condições para que seus “colaboradores” performem da melhor forma possível como profissionais, as organizações têm que oferecer os meios e conteúdos necessários para que estes progridam como seres-humanos e cidadãos. E, nesse contexto, devem direcionar recursos e implementar políticas e treinamentos que assegurem o letramento social, racial e de gênero de seu público interno em linha com uma premissa básica e universal: o respeito às leis e ao código de defesa do consumidor.
Recorro a dois exemplos escandalosos e recentes de discriminação racial e social envolvendo modelos de atendimento “diferenciados”, frutos, entre outras razões, dessa precária alfabetização das equipes sobre princípios basilares de atendimento ao público. A rede de moda Zara, segundo investigação da polícia do Ceará diante de denúncia de racismo por parte de uma consumidora (que, para azar da marca, era uma delegada), criou um código interno anunciado no sistema de som da loja – o Zara Zerou – para “alertar” os vendedores sobre a entrada de alguém fora do “perfil” do seu consumidor.
Já o Hipermercado Extra, que para sorte dos seus gestores de comunicação terá sua marca extinta depois da venda da maioria de suas lojas ao Assaí, desenvolveu uma modalidade especial de atendimento aos clientes de sua filial do Jardim Angela, bairro periférico da Zona Sul de São Paulo. Ao invés de preparar a carne, embalá-la, etiquetá-la e entregá-la ao freguês, como o faz em endereços mais prósperos da sua rede, o expediente no Jardim Angela era outro: a carne era pesada, mas o comprador só recebia uma bandeja vazia etiquetada com o preço, tendo acesso ao produto apenas após o pagamento no caixa. A prática, segundo a reportagem, tem sido empregada há cerca de um ano nesta e em outras unidades do Extra localizadas em bairros pobres da cidade.
É inaceitável seguirmos vendo episódios dessa natureza, principalmente depois do trágico assassinato de João Beto, um homem negro morto pelos seguranças de uma loja do Carrefour no Rio Grande do Sul em novembro de 2020. Este crime, cometido às vésperas do Dia da Consciência Negra (!!!), deveria ter tido na sociedade brasileira em geral, e no mundo corporativo em particular, o efeito sísmico global alcançado pela morte de George Floyd.
No entanto, quando um comunicado de imprensa terceirizando ou fulanizando a culpa já não dá conta de limpar a barra da empresa, o que vemos são espasmos pontuais de revisão na política interna da instituição diretamente envolvida na crise, o que indica maior preocupação com eventuais perdas de valor de mercado ou processos judiciais. Sem mudança estrutural, sobretudo na mentalidade dos tomadores de decisão, seguiremos enxugando gelo.
Ainda que tardiamente, é alentador ler sobre iniciativas como as da Avon, que estenderá seu programa de diversidade e inclusão, inicialmente voltado à sua equipe interna, para sua rede de revendedoras. A decisão implicará a capacitação de mais 1 milhão de pessoas com alto potencial multiplicador desse conteúdo, dada a dinâmica de relacionamento próxima que as representantes da marca costumam desenvolver com suas clientes.
O fato é que já não há ambiente cultural, e provavelmente nem incentivo financeiro no médio e longo prazos, para que líderes empresariais sigam alegando falta de recursos ou conhecimento para não fazer essa lição de casa. Até porque o que não falta são profissionais dentro de suas próprias empresas, além de consultorias especializadas, mais do que aptos a ajudá-los na já tardia missão de aperfeiçoar sistemas operacionais que insistem em tratar a área de recursos humanos como meros departamentos pessoais, e o investimento em seus funcionários estritamente como despesa.