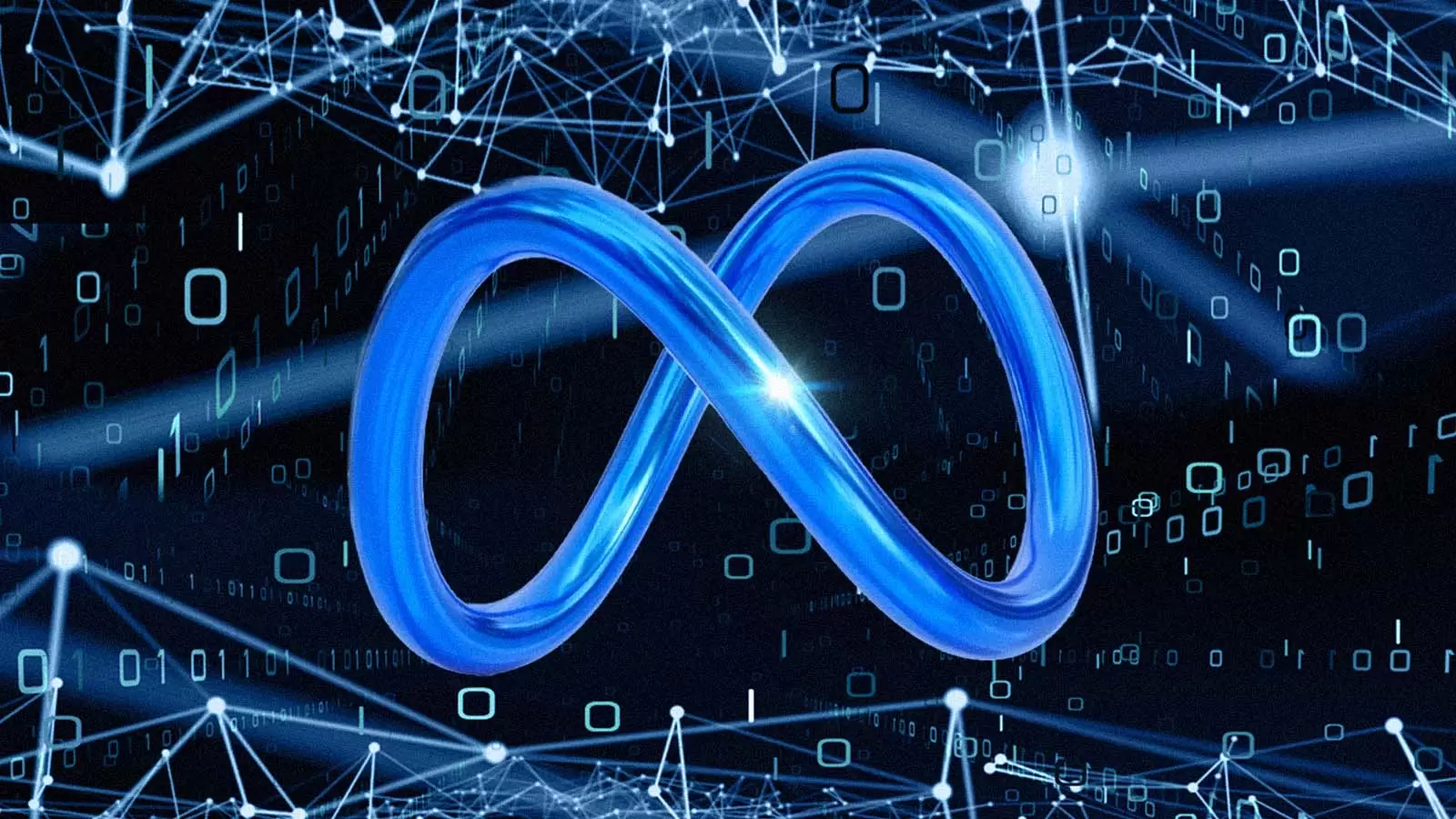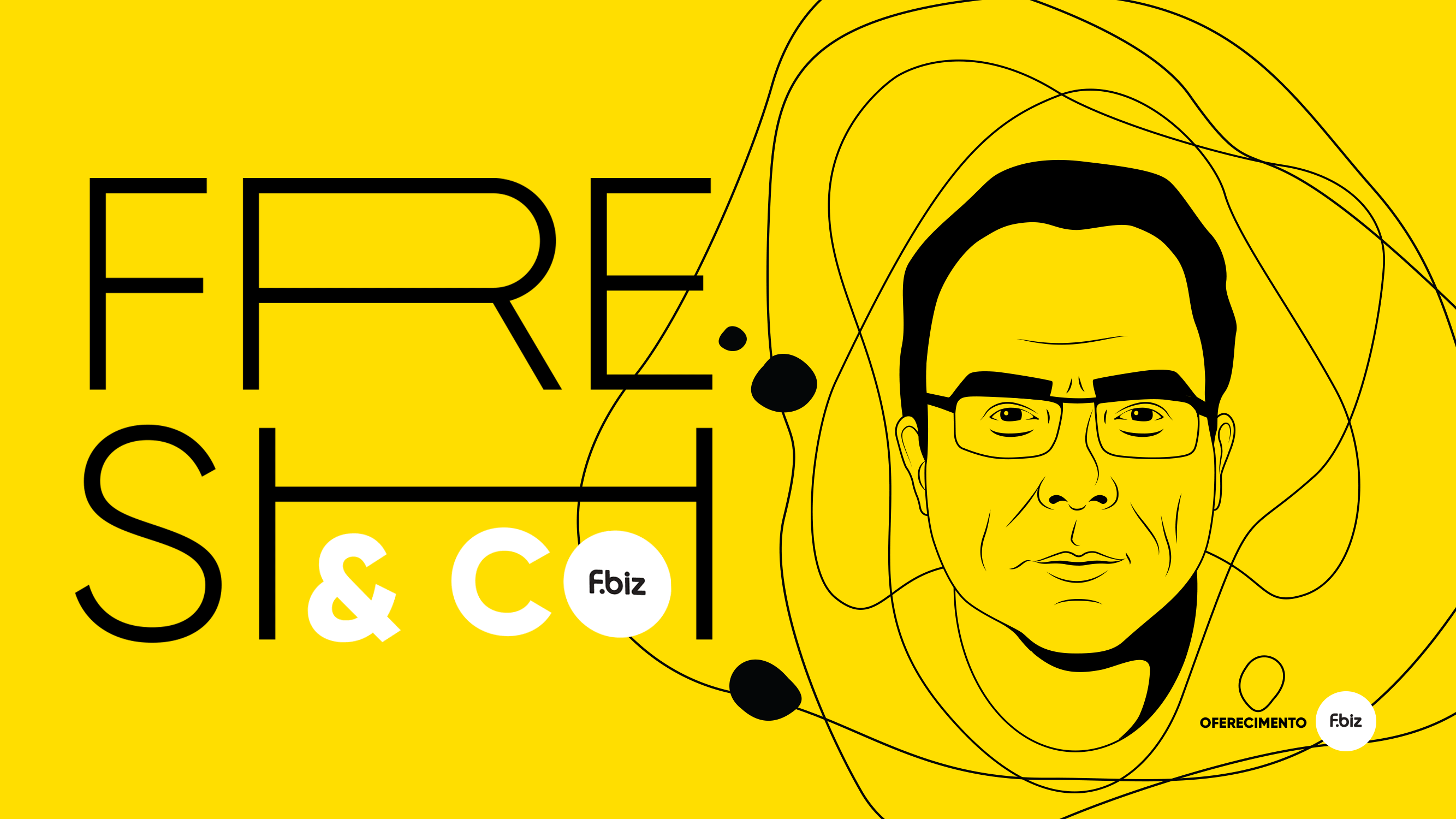Hermano Vianna: radar ligado 24/7 à procura de invenções libertadoras em IA
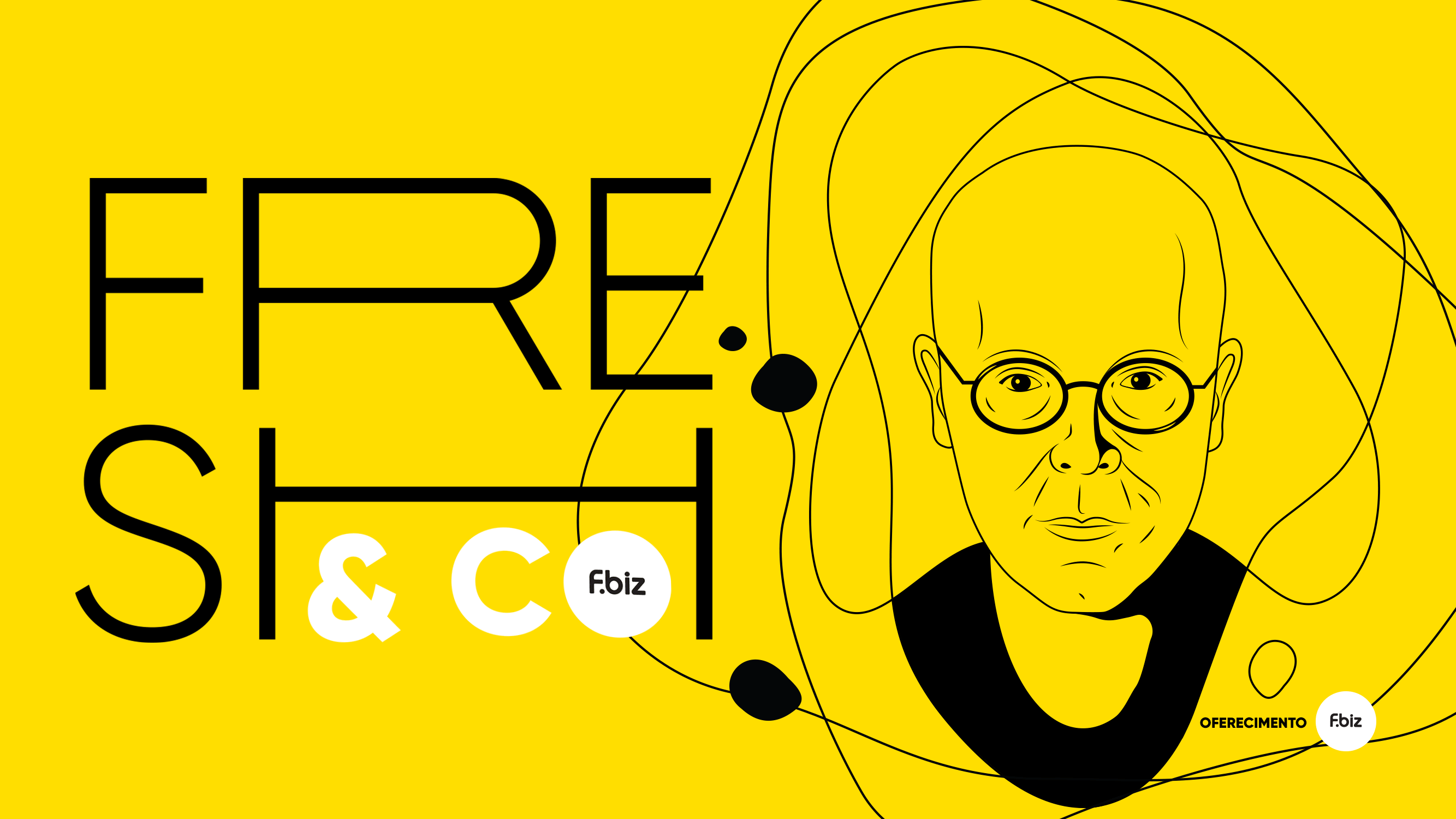
O futuro é agora. Mas como capturar o zeitgeist de algumas das áreas mais importantes — para a sociedade e para os negócios?
Esta é a proposta da série Fresh & Co, uma cocriação com a F.biz: a cada quinzena, você confere aqui na Fast Company Brasil uma entrevista com nomes relevantes de diversas áreas – da moda à antropologia, da arte à religião – que trazem uma leitura sobre o espírito cultural dos nossos dias.
A leitura da sociedade e das múltiplas culturas que caracterizam o Brasil é justamente a tarefa à qual se dedica o primeiro entrevistado da série Fresh & Co, Hermano Vianna. Mas, ao longo de sua trajetória, o antropólogo não se limitou ao universo acadêmico, pelo contrário: sempre transitou e participou ativamente da amplificação de movimentos culturais no Brasil. Foi responsável, por exemplo, por ajudar cenas musicais, como o manguebeat e o tecnobrega, a ganharem território Brasil afora. Em 2005, cofundou o site Overmundo, que propunha dar visibilidade à cultura nacional para além do mainstream. Dois anos depois, o site seria premiado com um Golden Nica no Prix Ars Electronica.
Nesta entrevista, Vianna compartilha sua visão sobre a confluência entre cultura, plataformas sociais e demais inteligências artificiais, no passado, presente e futuro:
FAST COMPANY: Qual o seu balanço das grandes promessas da internet quando esta surgiu comercialmente 25 anos atrás? Estamos mais livres? Mais abertos? O acesso à informação e ao conhecimento democratizou-se? Estamos melhores?
HERMANO VIANNA: Eu confesso, envergonhado: conheci a internet antes da WWW, quando todo mundo ainda precisava decorar vários comandos Unix para conseguir ler um simples e-mail, e entrei imediatamente para aquela turma que acreditava que ali estava a salvação do planeta. Hoje é fácil acusar: quanta ingenuidade!
“As atividades nas listas de discussão da Usenet – apesar das “flame wars” que anunciavam as polarizações atuais – pareciam conter anarquia e maluquice-beleza o suficiente para controlar o “lado ‘dark’ da força”
Era certamente um “utopismo” infantil. Mas as atividades nas listas de discussão da Usenet – apesar das “flame wars” que anunciavam as polarizações atuais – pareciam conter anarquia e maluquice-beleza o suficiente para controlar o “lado ‘dark’ da força”, naquela época bem simbolizado pela Microsoft. Aliás, Bill Gates chegou a desdenhar do que estava acontecendo e demorou anos para lançar o Internet Explorer.
Como canta Caetano, a grana tem força para erguer e destruir coisas belas. O dinheiro que pavimentou os caminhos pioneiros do ciberespaço era estatal/militar/acadêmico (longe de mim querer classificá-lo como “dinheiro bom” ou presente generoso de gente fina…). De um lado, a ARPA, do governo e das forças armadas dos EUA; do outro, o CERN, da Europa e também do mundo inteiro.
Quando o comércio descobriu a rede, por volta de 1995, o efeito foi “arrasa-quarteirão”. Demorou um pouco até o Google inventar o modelo de negócio via AdSense (e brinco denunciando que a culpa é da Harvard Business School, que impôs essa ideia de que os negócios precisam de modelos, desses tipos muito específicos de modelos…).
FC: E o que aconteceu com seu utopismo?
VIANNA: Com a “monetização” dos algoritmos que nos vigiam perpetuamente, a mudança foi rápida demais, vertiginosa. Costumo dizer que as redes sociais, os condomínios privados das novas corporações bilionárias, engoliram o espaço público que dominava a internet até aquele momento. Uma história bem contada/analisada em livros como A era do capitalismo de vigilância, de Shoshana Zuboff. Agora até as “nuvens” são “proprietárias”.
“É assustador o ataque colonialista das empresas de streaming em mercados audiovisuais de todos os continentes. As produtoras ‘locais’ precisam se adequar a seus modelos de contratos e de roteiros”
A promessa que mais me encantou quando aprendi a consultar bibliotecas de vários países, via Telnet ou Gopher, era a da descentralização. Mas deu no que deu: hoje vivemos num mundo cada vez mais centralizado, dependentes de três ou quatro “empresas-nuvens” para todas as atividades mais importantes de nossas vidas.
Mesmo as áreas que pareciam mais distantes da digitalização também passaram por um recente processo de hipercentralização. Por exemplo: as decisões sobre os livros que a humanidade vai ler, até quando incluem obras “pós-coloniais”, são tomadas nos escritórios de quatro conglomerados com sedes na Alemanha e na França…
É assustador o ataque colonialista das empresas de streaming em mercados audiovisuais de todos os continentes. As produtoras “locais” precisam se adequar a seus modelos de contratos e de roteiros, além de seu modo de pensar, filmar e falar. Qualquer forma alternativa de vídeo e cinema virou espécie “endangered”.
Agora nenhum projeto se torna realidade sem um pitching meio ridículo, em que proponentes e patrocinadores atuam como se fossem estudantes de uma high school de Orlando brincando de simulação da Assembleia da ONU. Pesadelo de Baudrillard: simulação de simulação de simulação sem fim… Mas as pessoas parecem adorar e exigem cada vez mais roteiros bem norte-americanos…
FC: Mas isso vai muito além da iniciativa privada, não? A influência transborda para o espaço público, para a cultura?
VIANNA: Voltando a citar Caetano: em Rock’ N’ Raul, ele canta, com gentileza e violência, a “vontade féla-da-puta de ser americano”. Mesmo depois de Trump, da invasão do Capitólio e do QAnon transformado em religião, essa vontade é cada vez maior, mais avassaladora. Que fique claro: eu adoro muita coisa da cultura dos EUA. Não seria quem sou sem o rock, sem o hip-hop, sem a Mondo 2000, sem Susan Sontag, sem John Cassavetes, sem Andy Warhol e tanta diversidade mais. Mas nunca me senti inferior. Agora, muitos manés ostentam títulos de universidades norte-americanas, e isso virou uma obrigação curricular… Que alegria/orgulho de ser colonizado.
“As pessoas parecem ter abandonado (…) os espaços públicos da primeira internet e migrado em massa para os condomínios privados. Não foram obrigadas a isso: acharam bacana”
Tem algo a ver com irresponsabilidade: outros povos decidem nosso destino, ao escolher o que é bom ou ruim por nós e para nós. Escolher bem, por vontade própria, certamente dá muito trabalho.
Eu lembro de uma vez – muito tempo atrás – em que disse que achava cafona o uso de palavras em inglês, como delivery, na publicidade. Quase vomitava quando lia “sale” em vitrine carioca… Você respondeu ponderando que, por outro lado, estávamos vivendo uma situação em que a língua portuguesa/brasileira passou a ser usada para denotar “coisa fina”, não escondendo certo elitismo ou tradicionalismo, tipo família quatrocentona…
Que desenvolvimento linguístico desastrado… Meu cotidiano ficou insuportável: agora, na pandemia, para iniciar qualquer trabalho, é obrigatório fazer um “call”… Por favor, não quero magoar ninguém. Muitas pessoas nem sequer percebem que isso está acontecendo, que falam “call” o tempo todo, sem nenhuma “maldade” pessoal: é algo muito mais forte do que a consciência delas.

Hermano Vianna: “Saúdo a circulação de literatura indígena contemporânea em vários cantos da rede. E a invenção de afrofuturismos variados” (Crédito: Divulgação)
Assim, as pessoas parecem ter abandonado, felizes da vida, os espaços públicos da primeira internet e migrado em massa para os condomínios privados. Não foram obrigadas a isso: acharam bacana, moderno e “up-to-date” serem imigrantes pioneiro(a)s (começou na conquista brasileira do Orkut e teve sequência com o incômodo com a “orkutização”…).
Não posso deixar de pensar no amigo de Montaigne, La Boétie, o filósofo para quem foram escritas as mais belas páginas sobre a amizade: o que a gente viu recentemente foi uma demonstração explícita e óbvia de “servidão voluntária”.
Parece ser uma delícia trabalhar de graça – ou pagar para trabalhar de graça (mesmo quando as pessoas ganham centavos por cada “engajamento”) – para Facebook, Twitter, YouTube, Spotify…
E mesmo entre poderosos: agora governantes de todos os países usam aplicativos estrangeiros para comunicação oficial com “sua” população.
FC: E o Brasil tem espaço? Onde vamos encontrar o nosso?
VIANNA: Gosto de ver corporações chinesas ou bandas coreanas fazendo sucesso. Claro que enxergo plenamente todos os problemas do lado de lá também. Mas, pelo menos, é uma pequena ameaça para o monopólio do Vale do Silício. Talvez a nova guerra fria provoque alguma brecha na dominação cool-irresistível do “designed in California”, por onde possa se infiltrar uma lufada de ar fresco surpreendente e realmente descentralizadora…
É difícil, se a brecha existir, o Brasil aproveitar a oportunidade. Vivemos uma catástrofe medonha em termos de políticas científicas, educacionais, ambientais, culturais e de saúde.
“Saúdo a circulação de literatura indígena contemporânea em vários cantos da rede. E a invenção de afrofuturismos variados, com caras bem daqui. Tudo isso me anima, pois mostra que o Brasil ainda existe e não vai acabar”
Porém, não quero ficar aqui me lamentando. Gosto de aproveitar qualquer oportunidade de fala pública para fortalecer aquilo de bom que resiste no planeta ou no Brasil, aquilo que precisa ser conhecido por mais gente. Antes de ser um “utopista convalescente”, sou um “utopista desesperado”, que ainda quer acreditar piamente na “marcha das utopias” de Oswald de Andrade – mesmo quando a marcha parece bem desanimada e claudicante.
FC: Então, ligue o radar e nos dê um pouco de alento.
VIANNA: Meu radar fica ligado 24/7 à procura de sinais de festas tecnoculturais, de ações que inventem inteligências artificiais-naturais libertadoras. Nem sempre são coisas obscuras, cultos de uma minoria. Muitas vezes, elas estão aí bem exibidas/célebres: são fenômenos de multidões, com bilhões de views.
Por exemplo, acompanho com enorme interesse, desde o início, a carreira de Whindersson Nunes. Só o fato de um garoto como ele ter conseguido fazer esse rebuliço megacomercial todo, diretamente da periferia do interior do Piauí, com um humor tão nordestino, já revela possibilidades de práticas artísticas que não existiam com esse alcance antes da internet.
Também fiquei alegre quando descobri o humor evangélico de personagens como o Pastor Jacinto Manto, prova da heterogeneidade desse novo universo religioso brasileiro, praticamente desconhecida (ou intencionalmente ignorada) por quem não frequenta uma de suas igrejas.
“Novas formas de arte e mestiçagens de seres humanos com robôs certamente vão aparecer neste “maelstrom” de pixels e sons digitalizados. Isso também me anima de montão”
Hoje presto muita atenção nos roteiros de Faela Maya, jovem mulher trans do interior do Ceará, com talento enorme até para criar metalinguagem sobre a mídia que utiliza. Seus vídeos com comentários sobre popularidade/engajamento nas redes sociais deveriam ilustrar aulas em faculdades de Comunicação.
E eu vibro com o sucesso, em plena pandemia, do Fundo de Quintal OFC, uma garotada que está produzindo vídeos lá no Centro dos Rodrigues, povoado de 900 habitantes, situado na zona rural de Santo Antônio dos Lopes, no centro do Maranhão. Para mim, as danças dos vídeos são coreografia/teatro de absurda vanguarda.
Saúdo a circulação de literatura indígena contemporânea em vários cantos da rede. E a invenção de afrofuturismos variados, com caras bem daqui. Tudo isso me anima, pois mostra que o Brasil ainda existe e não vai acabar.
O querido amigo Ronaldo Lemos já me prometeu um tratado sobre a nova sensibilidade infanto-juvenil brasileira, que ele identifica em plataformas como TikTok e Roblox. Antes, manipulação de mídia era coisa de arte experimental, geralmente política, situacionista. Agora é brincadeira cotidiana de crianças, usando muito recurso de inteligência artificial, com produtos bizarros, músicas ultra-aceleradas e imagens distorcidas: toda a história do audiovisual mundial reprocessada, comprimida e alucinada. Novas formas de arte e mestiçagens de seres humanos com robôs certamente vão aparecer neste “maelstrom” de pixels e sons digitalizados. Isso também me anima de montão.
Sinto, obviamente, que os rastros mais interessantes deixados pelo Brasil na história da evolução das ciberculturas estão relacionados com consumo/produção surpreendente dentro de plataformas desenvolvidas/desenhadas em outros países (antes “só na Califórnia”; agora – vide novos TikToks – em algum arranha-céu de Shenzhen). Sei que temos unicórnios por aqui. Mas, salvo engano, todos parecem trabalhar dentro de paradigmas já testados alhures.
Precisamos de mais ousadia: inventar modelos de IA que pensem como a rede de plantas da Mata Atlântica, misturando as 200 línguas indígenas que existem no Brasil, dançando na complexidade dos ritmos do candomblé. Não quero menos do que isso… Mas, para tanto, como disse Oswald de Andrade, agora centenário em seu modernismo, precisamos de duas coisas essenciais que correm perigo de desaparecer: “A floresta e a escola.”