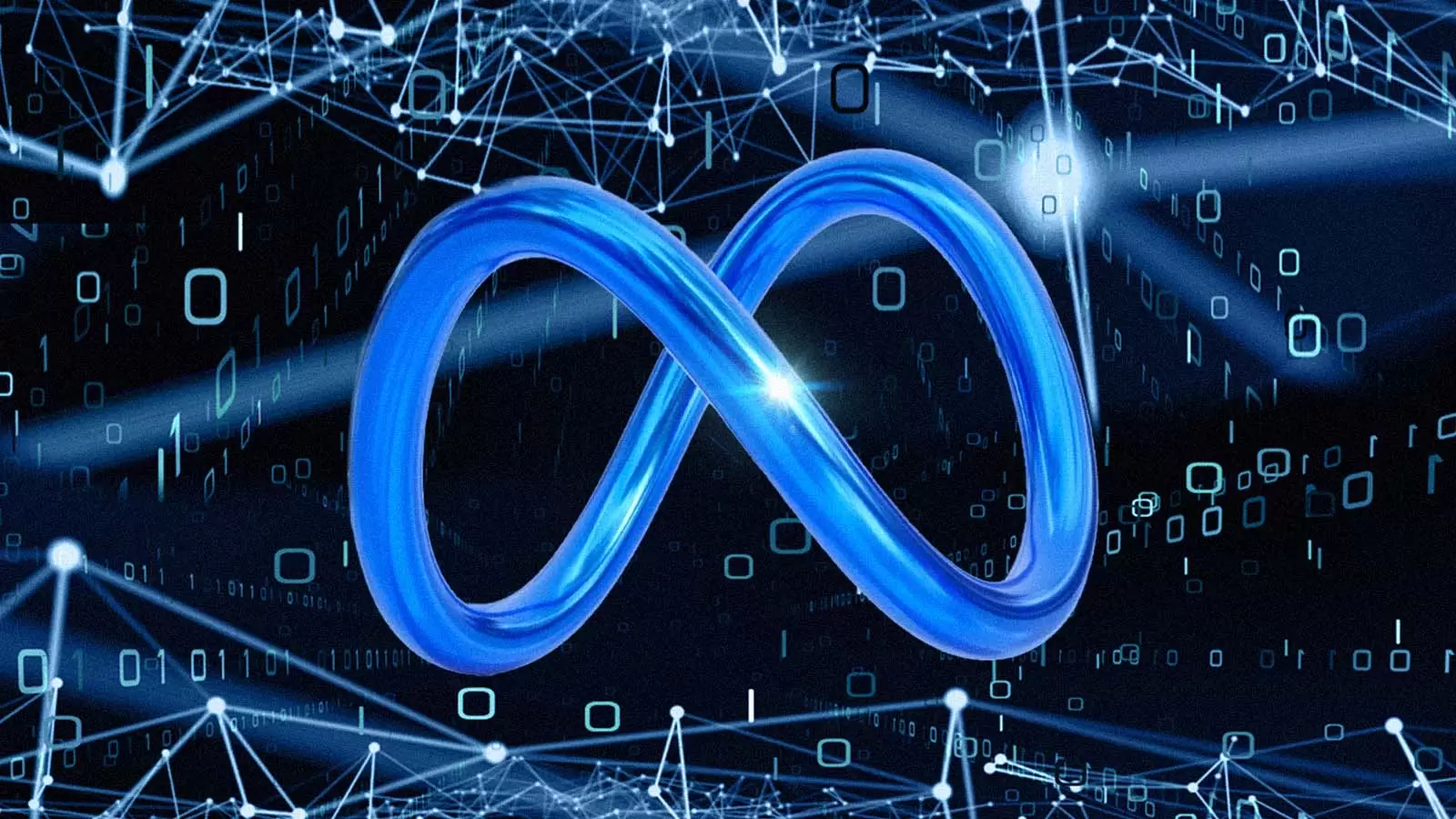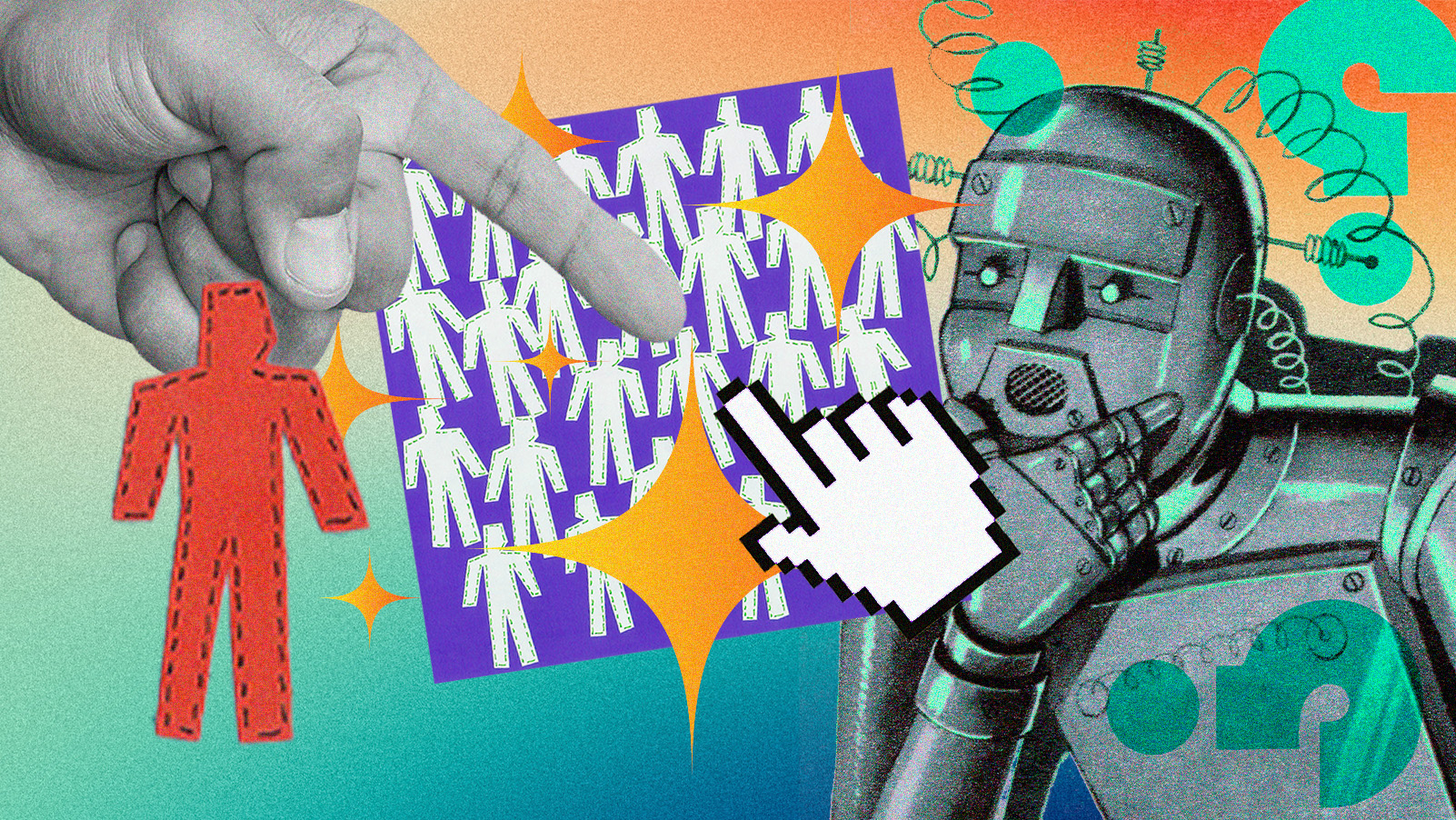Você tem tempo pra perder?
Em um mundo onde o trabalho ainda domina quase tudo, até o descanso virou performance. E nada comunica status hoje como parecer desocupado

Tenho percebido algo curioso acontecer – pelo menos na bolha em que vivo. Por aqui, a cultura da pressa segue firme, os prazos continuam apertados, o mundo não parou, mas uma nova estética começou a ganhar força: a figura de quem aparenta sempre ter tempo sobrando. Não porque, necessariamente, esteja mesmo assim, mas porque descobriu que parecer desocupado é o novo jeito de sinalizar status.
Ser visto tomando uma taça de vinho às três da tarde de uma segunda. Postar uma foto num curso de tingimento de tecido no meio da semana; ou usar uma legenda tipo “dia de faxina mental” – mas em um spa. O novo luxo é parecer desocupado – mesmo que a agenda siga lotada.
Não é exatamente sobre estar sem compromissos, mas sobre estar em outro compasso. O analista de cultura e comportamento de marcas Eugene Healey tem feito uma série de vídeos nas redes sobre o tema: diz que estamos assistindo à ascensão de uma “nova leisure class”, onde a aspiração não é mais conquistar, mas existir com leveza.
É a autonomia sobre o tempo transformada em moeda simbólica. A vibe virou capital social. Ela inspira. E causa ansiedade em quem não está fazendo o mesmo.
Em uma reportagem recente da Fortune, a jornalista Emma Burleigh mostra como os ultra ricos passaram a valorizar mais esse comportamento “lazyness” do que ostentar bolsas e carrões.
Silvia Bellezza, professora da Columbia Business School, em Nova York, também analisou o fenômeno e mostrou que, hoje, o auge do privilégio é parecer desocupado – e fazer disso um gesto de poder.
Já a The Atlantic publicou uma série de textos e ensaios sobre como o lazer virou objeto de desejo, incluindo reflexões sobre o que significa descansar de verdade, ou parecer estar descansando. Um guia para entender a diferença entre relaxar e ser preguiçoso.
Em paralelo, cresce a rejeição à hustle culture. A filosofia da produtividade a qualquer custo começa a perder o encanto. Por mais que se insista no discurso de que “se você se esforçar, tudo vai dar certo”, a gente sabe que nem sempre vai.
Essa consciência, ainda que silenciosa, está por trás dessa nova onda do soft life: a tentativa de humanizar o ritmo, mesmo que seja uma performance.

Claro que nem todo mundo pode performar o ócio. E o que não faltam são estudos e pesquisas que provam o óbvio ululante: comunidades de baixa renda e pessoas negras e periféricas têm menos acesso a espaços de lazer e atividades recreativas.
O tempo livre, assim como o espaço urbano e a saúde mental, é desigualmente distribuído. E a pressão por parecer desocupado pode ser mais uma camada de ansiedade para quem está lutando somente para seguir adiante.
Como toda tendência, o que parece ter brotado do nada tem história. Em 1969, o filósofo alemão Theodor Adorno se debruçou sobre o tema em uma conferência chamada Freizeit, ou tempo de lazer, em bom português. Até o ócio, dizia ele, podia ser só uma extensão do trabalho, disfarçada para manter tudo como está.
A filosofia da produtividade a qualquer custo começa a perder o encanto.
Quase um século antes, em 1899, o economista e sociólogo Thorstein Veblen já falava sobre a “classe ociosa” no livro "A Teoria da Classe do Lazer", onde o lazer era um privilégio reservado aos ricos, sinalizado por meio de atividades que mostravam ao mundo que aquela pessoa não precisava trabalhar.
A nobreza inglesa fazia o mesmo com torneios e caças. O que muda agora é a linguagem: o Instagram – ou a calçada do seu bairro repleta de restaurantes e bares – substituiu o jardim da propriedade rural como vitrine de uma vida fora do tempo comum.
Se antes o tempo era controlado pelo relógio do empregador, agora é pelo algoritmo e pela estética da leveza. Só mudou quem dita o ritmo – a pressão continua igual.