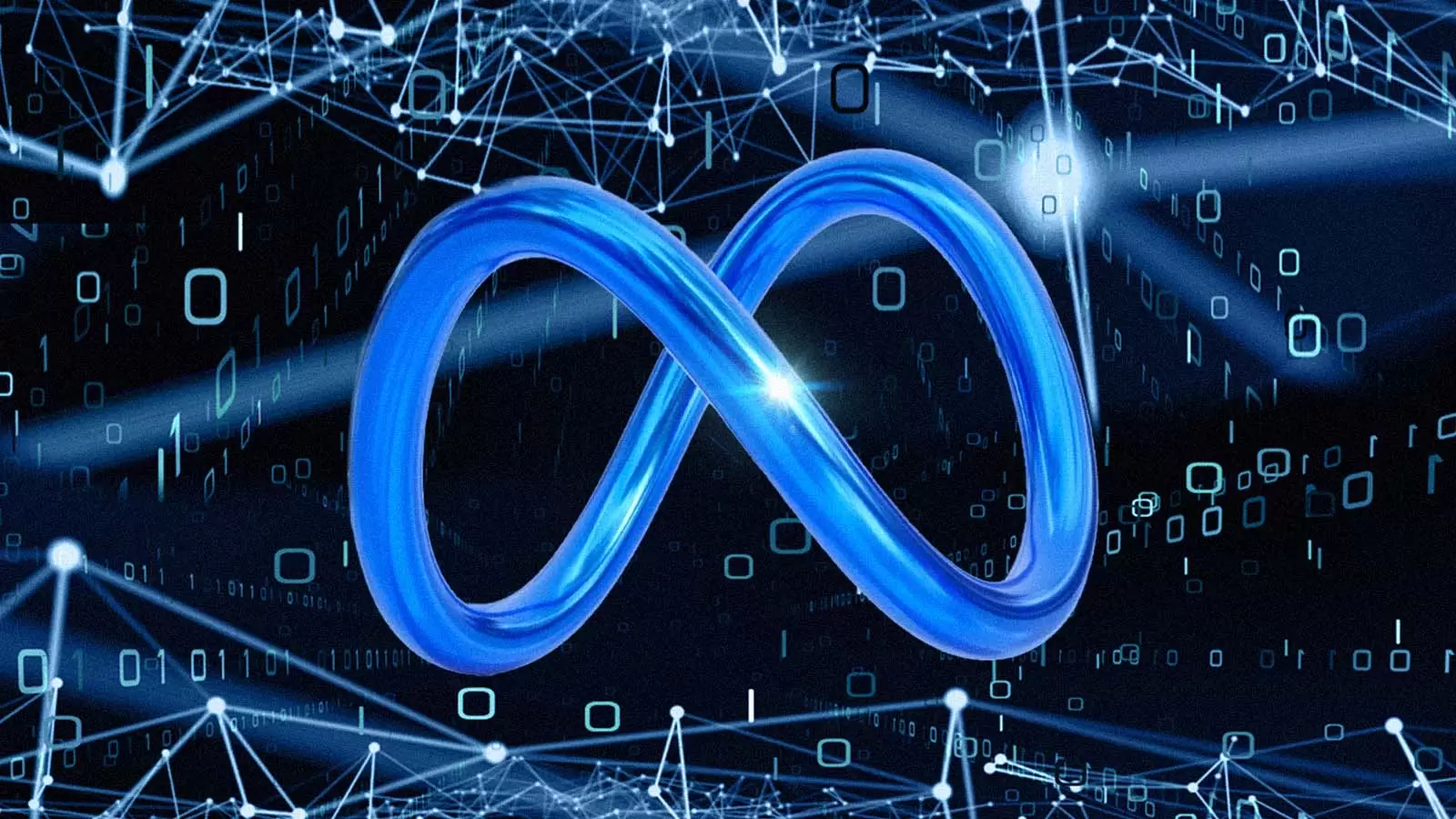5 perguntas para Justino Rezende, autor e pesquisador do povo Utãpinopona-Tuyuka

A ciência para salvar a Amazônia – e o planeta – virá da própria floresta. Nascido no povo Utãpinopona-Tuyuka, no Alto Rio Negro, no Amazonas, Justino Rezende acaba de assinar artigo em uma das revistas de ciência mais prestigiadas do mundo, a "Science", sob o título "Indigenizing conservation science for a sustainable Amazon" (Ciência conservacionista indígena para uma Amazônia sustentável).
O pesquisador e padre fez parte do primeiro grupo de cientistas indígenas a participar dessa publicação. O artigo trata sobre tecnologias ancestrais para a preservação do meio ambiente.
Doutor em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), ele é um dos principais acadêmicos indígenas do Brasil, conhecido por seu trabalho que une os saberes tradicionais dos povos originários às metodologias acadêmicas ocidentais.
Sua trajetória inclui a participação como assessor no Sínodo da Amazônia no Vaticano, onde contribuiu com uma visão indígena sobre a preservação da floresta e a espiritualidade, além de coordenar o Centro de Formação para Ministérios Eclesiais na Amazônia
Para Justino, o conhecimento indígena é ciência – com métodos próprios de observação, experimentação e ensino – e oferece soluções fundamentais para desafios globais, como mudanças climáticas e sustentabilidade.
Ele defende que integrar essas perspectivas aos currículos acadêmicos é mais do que um reconhecimento; é uma necessidade para a construção de um mundo mais equilibrado.
FC Brasil – Você foi um dos autores do primeiro artigo assinado por cientistas indígenas na prestigiada revista "Science". Como a ciência ocidental pode aprender com a ciência indígena?
Justino Rezende – O que podemos fazer é ter uma abertura para compreender que existem diversidades de povos, com seus conhecimentos construídos ao longo de décadas, milênios. Se não houver essa abertura, não haverá reconhecimento da validade de ciências diversas. Penso que o primeiro passo é esse: começar a estreitar o diálogo com aqueles que podem e querem dialogar conosco.
Muitos não estão dispostos a dialogar, já fecharam suas decisões, achando que ciência é ciência e que qualquer outra coisa é "outra coisa". Isso muda quando acontece um evento como o artigo na "Science", que reconhece que indígenas e professores de grandes universidades podem trabalhar em parceria.
É importante pensar que nossas vozes devem ocupar espaços nas universidades, nas instituições, nas mesas de negociação.
Esse reconhecimento é um passo, uma demonstração de compromisso, tanto dos cientistas quanto dos indígenas, para que os próprios indígenas falem por si e validem seus conhecimentos. São pequenos passos, mas muito importantes internacionalmente. A ideia é sair do nível discursivo-teórico e mostrar como esses conhecimentos se concretizam na prática dos povos.
Também se discute a participação de mais pessoas e como estabelecer parcerias com os sábios mais tradicionais nas aldeias. Até agora, não temos fundos para isso. Estamos pensando em formas de custear bolsas para eles.
Quem passou pela universidade faz a mediação, servindo como uma ponte entre o saber considerado "ciência" e a ciência indígena. Acredito que o trabalho será amplo e que mais cientistas vão querer participar e dialogar. Isso aumentará a demanda para estar em outros espaços, divulgando, discutindo, aprofundando ou mesmo explicando dúvidas que surgirem.
FC Brasil – O artigo trata sobre estratégias indígenas para conservação da Amazônia. Levando em conta a possibilidade de estarmos próximos de um ponto de não-retorno para a floresta, quais conhecimentos indígenas deveriam fazer parte das estratégias para lidar com a crise climática?
Justino Rezende – Tecnologias indígenas são próprias. Elas não são grandiosas no sentido de destruir tudo; elas se preocupam muito com o uso equilibrado das coisas – dos peixes, dos animais, dos recursos naturais, que são a alimentação dos povos originários, das plantas, das frutas. Esse equilíbrio no uso dessas riquezas é o que deve nos nortear.
A tecnologia indígena considera outras realidades que não apenas a do ser humano. Olhamos para pássaros, animais, seres aquáticos – para nós, todos são “gente”. E a tecnologia precisa servir para todos. É preciso dialogar com eles, pedir permissão, não enganá-los, porque, se forem trapaceados ou enganados, eles descobrem e isso tem impacto de volta para os humanos.
Por isso, as técnicas indígenas mais acertadas envolvem cerimônias de proteção, dança, música, em comunhão com a natureza. Pedimos permissão: antes de viagens, antes de realizar trabalhos nas roças ou grandes pescarias. Esses rituais são técnicas comprovadas e válidas. Por isso, os sábios e especialistas transmitem essas técnicas para seus filhos e netos.

O que temos dito é que essas técnicas, essas práticas validadas por séculos, que dão sustentabilidade aos povos, precisam ser conhecidas pelo mundo. É importante pensar que nossas vozes devem ocupar espaços nas universidades, nas instituições, nas mesas de negociação com governantes, na economia.
Temos pensado em projetos como um centro de medicina indígena, que poderia estabelecer uma aproximação com as cidades, mostrando que existem outras alternativas para curar tratar doenças que médicos e remédio, muitas vezes, não conseguem curar. Outra iniciativa seriam cozinhas que promovam a alimentação indígena, mostrando que há alimentos diferentes que também fazem muito bem.
Acredito que, com mais indígenas em lugares estratégicos, nas universidades, vamos ampliar outras perspectivas de vida. Nossa preocupação é essa: como vamos influir politicamente nas decisões das nações. Nesse ponto, nosso artigo pode inspirar outras nações, outros povos – indígenas e não indígenas – a pensar a vida, a história e os contextos atuais de forma diferente.
FC Brasil – Como você define o que é inovação?
Justino Rezende – Na antropologia, entre os indígenas, falamos do corpo e da terra como parte de um mesmo cosmo. A inovação, para mim, é sobre como esse mundo, esse cosmo, as pessoas e os territórios, vão adquirindo outras roupagens.
Quando o mundo está em destruição, é como se estivesse com roupas envelhecidas, apodrecendo, caindo aos pedaços. A inovação é como encontrar uma roupa mais curadora: de qual cultura, onde buscar novas fibras, novas energias, novas perspectivas de vida.
É nesse ponto que os conhecimentos e as ciências indígenas surgem como uma proposta de vida, uma nova maneira de pensar. Uma nova proposta de economia que não seja destrutiva, uma nova forma de refletir sobre política e cultura no sentido mais amplo.
Acredito que o futuro da ciência depende da contribuição dos povos originários – indígenas, quilombolas, afrodescendentes.
Não ver os territórios, as florestas, os outros seres como simples recursos a serem explorados, mas como cultura viva, que precisa ser respeitada, ouvida e vivida em convivência.
Há grupos de cientistas que lutam para que sejam garantidos os direitos à vida das plantas e dos animais, como se fossem direitos humanos. E, na nossa perspectiva, realmente são. É uma inovação falar que a água tem o direito de viver e ser preservada. Não somos os primeiros a pensar isso; há cientistas não indígenas que também pensam assim.
Nosso conhecimento não busca se sobrepor ao conhecimento ocidental, assim como não queremos que a ciência ocidental se sobreponha às ciências dos povos originários. Nosso sonho é que nossos conhecimentos – não apenas os do Alto Rio Negro, mas de povos indígenas da América Latina e de outros continentes – possam ser reconhecidos.
FC Brasil – Um dos pontos que você estudou e sobre qual já escreveu é a escola Tukuya. O método de ensino do povo Tuyuka é multilíngue, com calendário flexível, foco na vivência prática e na integração entre pessoas de várias idades. Os mais velhos ensinam as crianças e a curiosidade é estimulada. Como seria possível, em um segmento tão tradicional como educação, implementar práticas inovadoras de ensino?
Justino Rezende – A Escola Tuyuka foi uma iniciativa do Instituto Socioambiental, em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, financiada com recursos do exterior. Foi uma experiência inovadora.
Muitos professores passaram por ali com o sonho de que ela se tornasse uma experiência prática educacional revolucionária. Ela também foi inspirada na Escola da Ponte, de Portugal, com o objetivo de aprender e ensinar de formas diferentes.

Os professores enfrentaram crises porque estavam acostumados com o modelo ocidental de ensino, que consiste basicamente em pegar um livro e repetir o conteúdo. Na Escola Tuyuka, todos eram alunos e pesquisadores – crianças, professores e os próprios sábios das comunidades. Esses últimos, que realmente detêm o conhecimento, passaram por muitas dificuldades.
Outro aspecto importante foi a valorização das práticas culturais locais, como danças, música e idioma, o que trouxe resultados muito positivos. No método tradicional dos Tuyuka, aprendemos escutando, olhando, fazendo e vendo fazer. Esses elementos são cruciais.
Na educação ocidental tradicional, o aluno é colocado na escola apenas para receber conhecimento, mas raramente se ensina como transformar esse conhecimento em prática e vida. A educação escolar indígena busca essa inovação: que o aprendizado não seja apenas teórico, mas também prático, conectado à vida.
FC Brasil – Os tuyukas são conhecidos por serem grandes oradores e contadores de histórias. Que história você gostaria de escutar quando o tema é futuro?
Justino Rezende – Quando entrei na escola, em 1970, em um internato missionário, meu avô me acompanhou muito. Ele queria que eu seguisse os passos dele, como mestre de dança e cerimônias. Mas, ao perceber que eu estava avançando nos estudos, ele repetia: "no futuro, vocês não serão mais como nós, vão ficar como os brancos."
Penso muito nisso. Parece que nossos avós estavam entregando os pontos, sem resistir ao modelo ocidental de educação e pensamento. A resistência veio depois, na década de 1990, com a criação das escolas indígenas.
Houve uma reação: "nossos filhos e netos não podem se tornar brancos. Eles precisam assumir suas identidades originárias, suas línguas, suas tradições, que são muito importantes para o mundo de hoje." Se não assumirmos nossos conhecimentos e tradições, vamos desaparecer. Esse era o discurso do movimento indígena: não desaparecer. Precisamos mostrar quem somos.
essas técnicas, essas práticas validadas por séculos, que dão sustentabilidade aos povos, precisam ser conhecidas pelo mundo.
As escolas começaram a valorizar a dança, as cerimônias e a produção de publicações. Professores passaram a pensar em licenciaturas indígenas para trabalhar esses temas. Eu mesmo fui professor dessas licenciaturas e trabalhei bastante em diversos temas. Surgiu também o magistério indígena, para formar professores e fortalecer o movimento.
Acredito que o futuro da ciência depende da contribuição dos povos originários – indígenas, quilombolas, afrodescendentes. É essencial ouvir essas outras ciências, dar-lhes voz, contar e registrar essas histórias. É assim que podemos contribuir para um mundo diferente do que temos hoje.
Não podemos nos acomodar. Muitos indígenas no movimento são lutadores, guerreiros das palavras, que estão dizendo ao mundo o que precisa mudar. Ailton Krenak, por exemplo, tem uma influência enorme, e há outros indígenas, no Brasil e no mundo, que estão falando bastante sobre esses temas. Estamos conectados com eles.
O mundo não é só nosso. Não podemos pensar apenas em nós mesmos. Nossos territórios podem ajudar o mundo a prolongar sua existência e a expectativa de vida de todos.