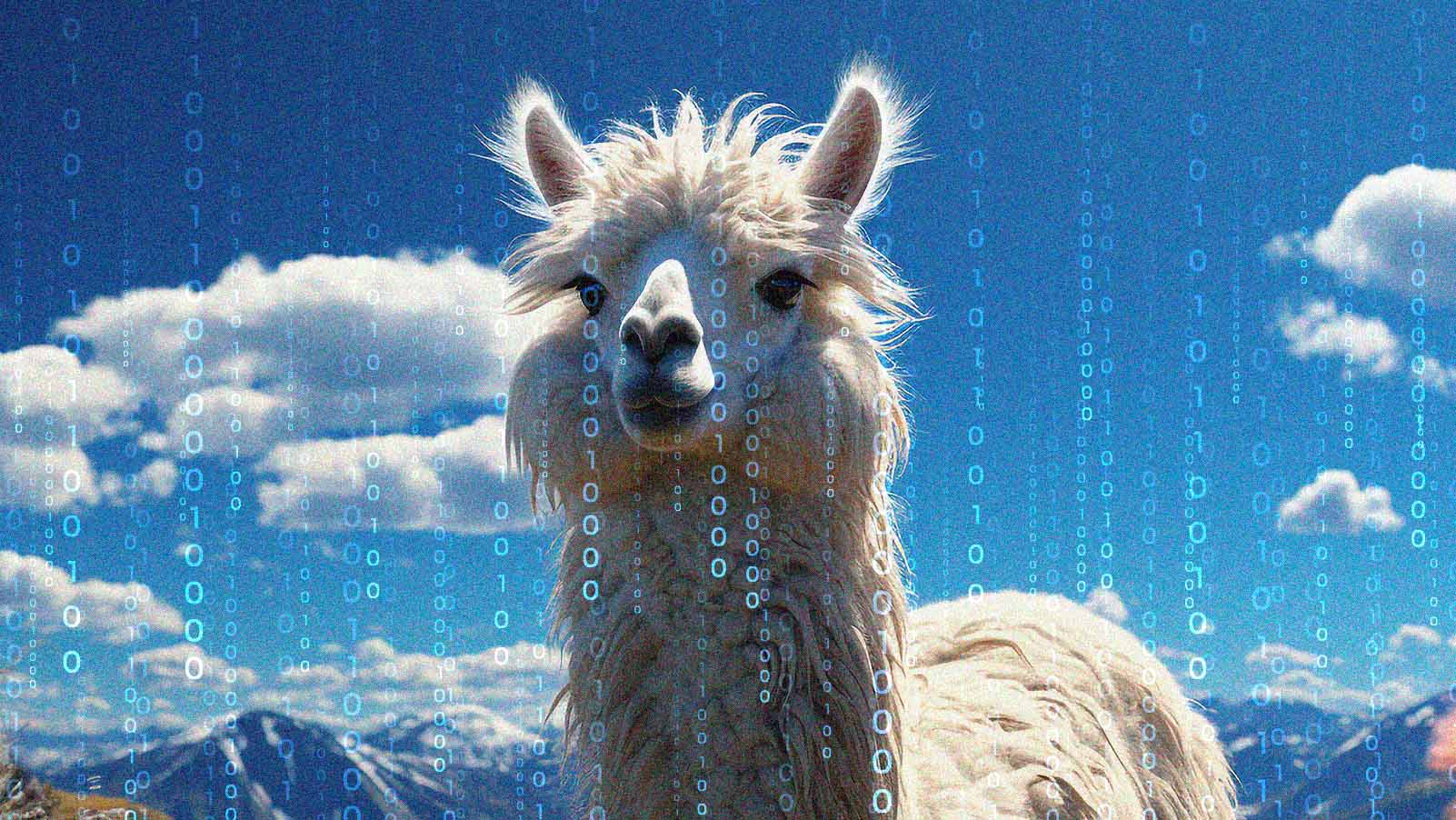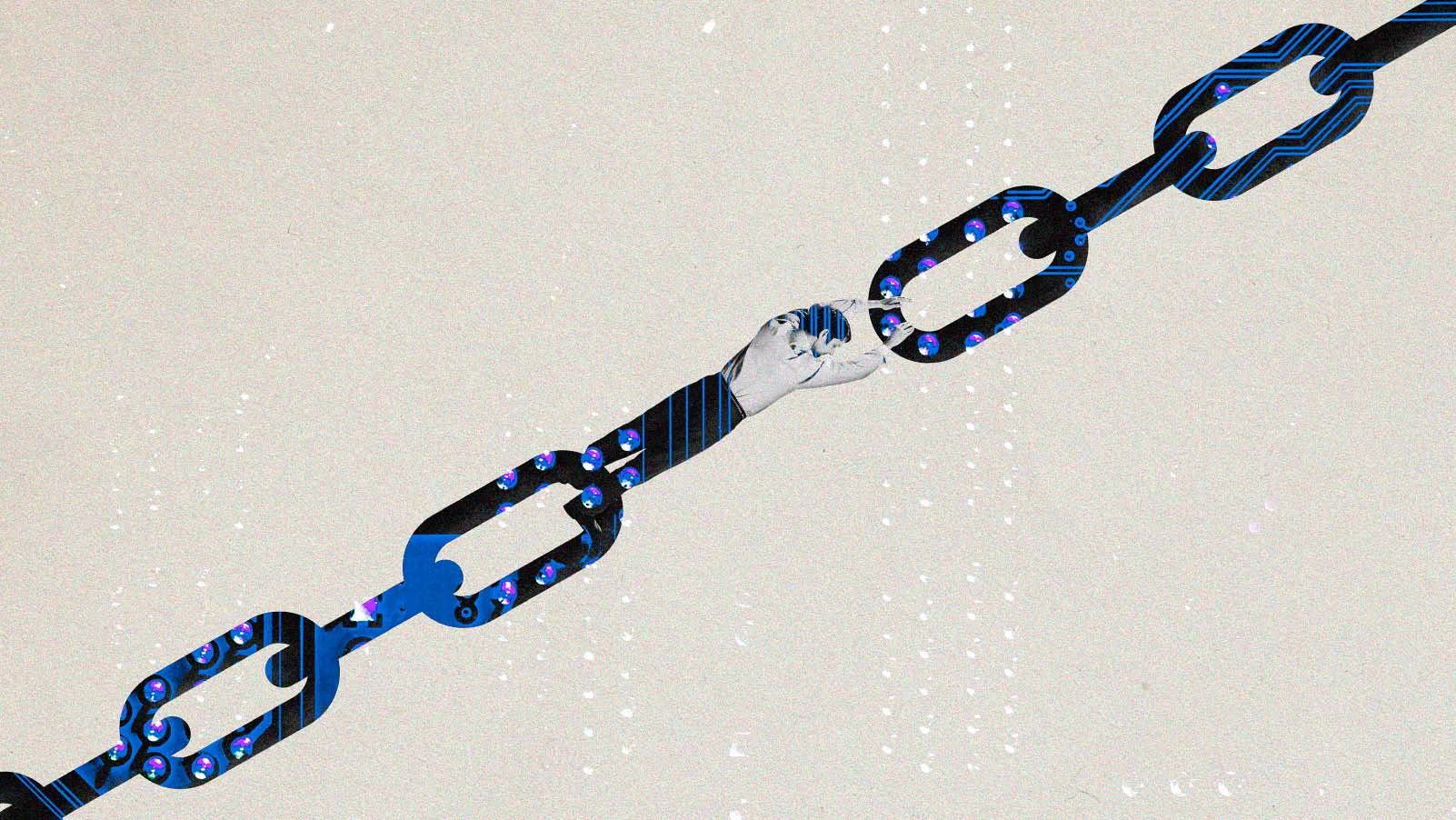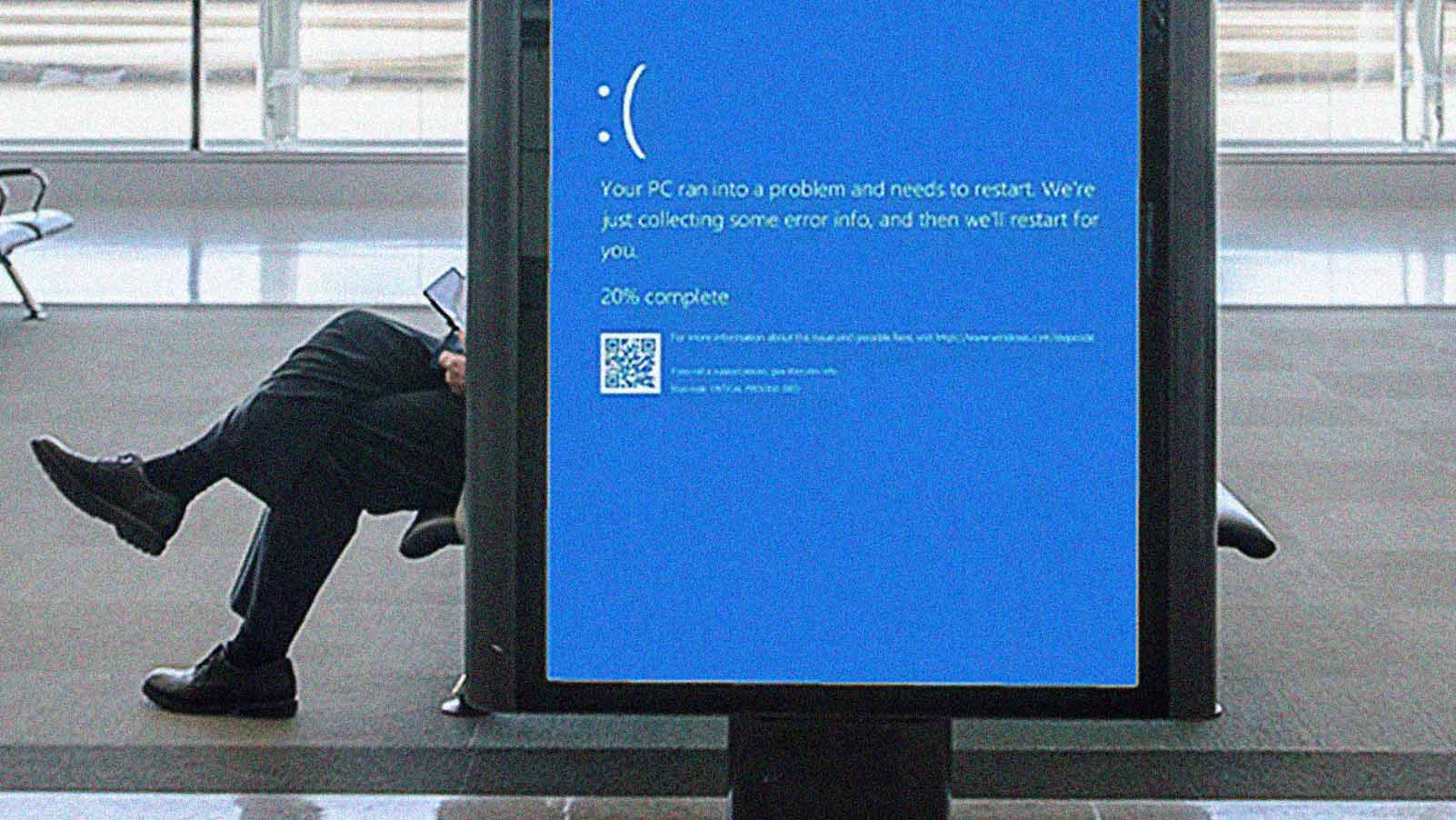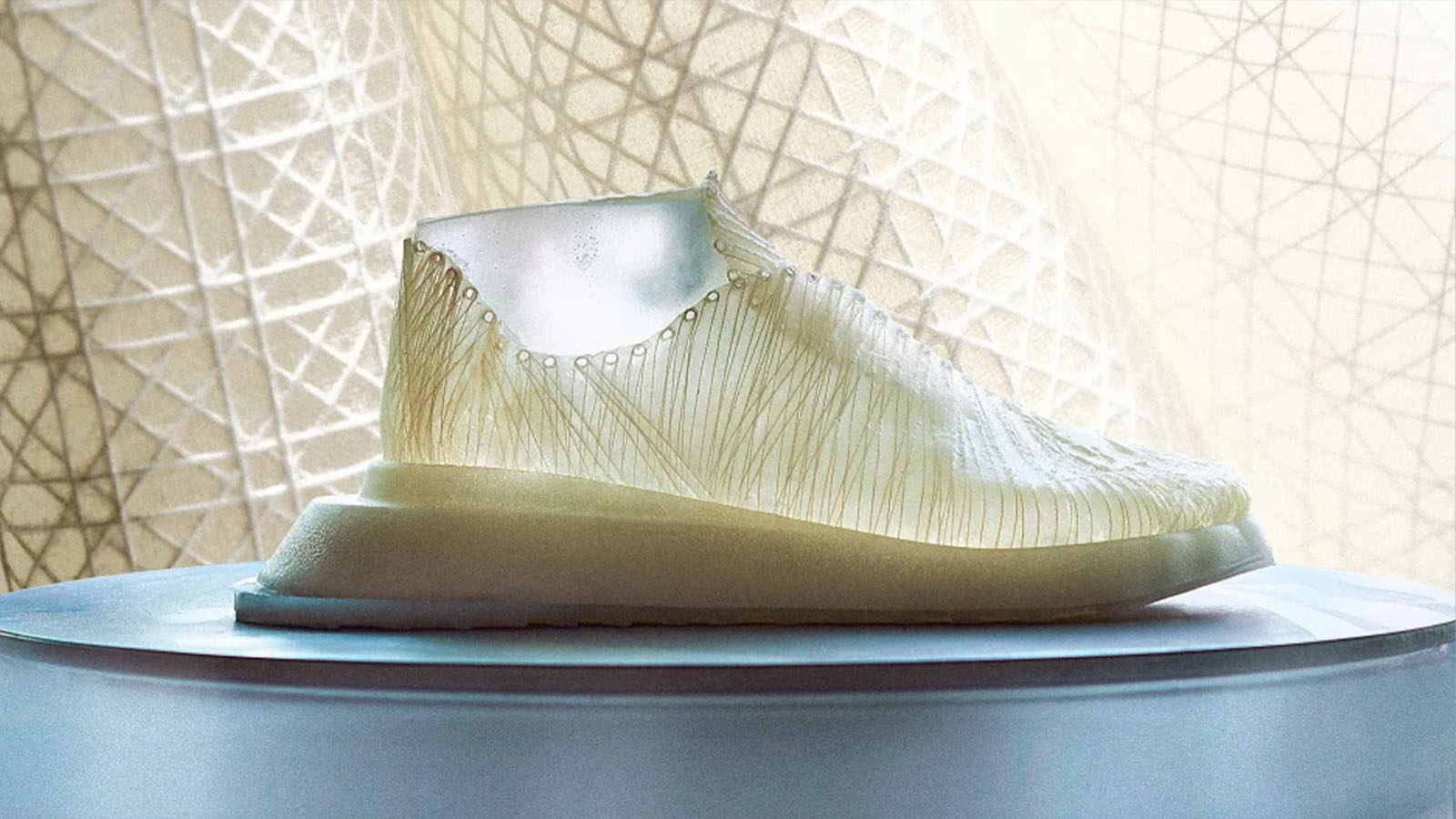Floresta em pé e inovação de ponta na Amazônia. O futuro possível de Carlos Nobre
Climatologista propõe criação de Instituto de Tecnologia para Amazônia e prevê um novo modelo de economia que leva em conta o conhecimento ancestral e a tecnologia moderna

A Amazônia pode guardar o fim ou a regeneração do mundo. Otimista, Carlos Nobre prefere acreditar na segunda opção. O climatologista, pesquisador e professor aposta na criação de um novo modelo de economia com “floresta em pé e rios fluindo”, fruto da união entre os conhecimentos ancestrais e os saberes da ciência moderna. Uma inovação capaz de oferecer à Terra um recomeço em meio ao caos.
Nobre tem o projeto de criar o Amazon Institute of Technology (AmIT), centro de pesquisa pan-amazônico inspirado no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Espalhado pela Amazônia, o AmIT contaria com cientistas indígenas, lideranças comunitárias femininas, ribeirinhos, além de laboratórios em barcos e um innovation hub para startups. O centro é um sonho de Nobre. "Esse é o último projeto da minha carreira. Prometi a minha esposa.”
Estamos distantes ainda de criar uma sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo.
O primeiro cientista brasileiro a ser nomeado na Royal Society, academia de ciências mais antiga do mundo moderno, valoriza a ciência ancestral. “Os indígenas têm um conhecimento e um modo de vida: a economia de manter a floresta em pé. Por milhares de anos, os indígenas da Amazônia utilizaram mais de dois mil produtos florestais terrestres e aquáticos, 1,25 mil plantas medicinais, em toda a sua boa existência”, aponta.
A Amazônia tem 13% da biodiversidade do planeta, “isso contando apenas as espécies conhecidas”. Startups poderiam surgir para sequenciar tais plantas, animais e seres microscópicos. No emaranhado das raízes, solo e folhas há, inclusive, seres que podem causar danos irreparáveis para a humanidade.
“É um milagre e uma sorte imensa que a Amazônia nunca tenha gerado uma pandemia, mas todos os elementos para gerar uma nova estão lá”, alerta Nobre.

Manter a floresta em pé e fluindo tem outro nome para Nobre: sociobioeconomia. O modelo também significa manter a temperatura do planeta no patamar em que está, sem overshootings ou soluções tecnológicas caríssimas. Para ele, a melhor forma de capturar carbono da atmosfera continua sendo recuperar as florestas e diminuir o desmatamento.
Nobre liderou a área de pesquisas climáticas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e é um dos autores do quarto relatório do Painel Intergovernamental em Mudanças Climáticas (IPCC), publicado em 2007.
Um dos maiores desafios é que, globalmente, não se valoriza o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais.
A entidade, que dividiu o prêmio Nobel da Paz em 2007 com Al Gore, trouxe no documento comprovações científicas de que a ação humana e as emissões de gases são responsáveis pelo aquecimento global.
Além disso, Nobre foi o primeiro cientista a falar sobre o “ponto de não retorno”, no começo dos anos 90. É quando a floresta perde a capacidade de se regenerar, virando uma savana. De lá para cá, ele se tornou um dos maiores especialistas na floresta amazônica. Segundo o cientista, o território está “à beira do precipício”, muito próximo de ser degradado completamente.
Para evitar esse processo, o Brasil precisa começar pelo que consegue fazer: zerar o desmatamento nas áreas florestais. Nobre acredita que o país não só pode realizar tal tarefa, como também modernizar a pecuária e a agricultura.
FC Brasil – O senhor tem o sonho de transformar o coração da Amazônia em um centro de produção de ciência de ponta, incorporando conhecimento técnico com o dos povos indígenas. Quão distante estamos desse sonho e o que é necessário para torná-lo realidade?
Carlos Nobre – Ainda estamos distantes de implementar, na Amazônia, um sistema que gere inovações tecnológicas, combinando a moderna ciência com o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. Estamos distantes ainda de criar uma sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo.
Um dos maiores desafios é que, globalmente, não se valoriza o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. Há um desejo de proteção dos indígenas, das comunidades, mas é como se os conhecimentos dos povos originários fossem atrasados, não é ciência moderna.
Mas a própria antropologia e a ciência moderna, estudando os povos originários, mostram que os povos indígenas, há milhares de anos, já vêm desenvolvendo uma ciência própria. Os outros povos que chegaram na Amazônia nos últimos séculos, como os ribeirinhos e os quilombolas, também aprenderam esse conhecimento.
E que conhecimento é esse? É uma economia, um modo de vida que mantém a floresta em pé. Por milhares de anos, os indígenas da Amazônia utilizaram mais de dois mil produtos florestais terrestres e aquáticos, 1,25 mil plantas medicinais, em toda a sua boa existência.

Quem desenvolveu os primeiros sistemas agroflorestais da Amazônia? Não fomos nós, foram os indígenas. Eles vêm desenvolvendo sistemas agroflorestais há milhares de anos. Por que, por exemplo, a palmeira do Açaí é a espécie com maior número de plantas na Amazônia? Isso não foi só evolução natural.
Açaí era um produto tão básico na alimentação dos indígenas por milhares de anos que eles descobriram formas de plantar açaí na floresta, não em sistemas de monocultura. As mulheres indígenas, especificamente, tinham pequenas áreas de hortifruti, voltadas para produzir mandioca e outros alimentos. Essas pequenas áreas desmatadas eram abandonadas após décadas de uso e a floresta crescia, ela se restaurava nessa área.
Muitas das espécies como açaí, cacau, castanha, que hoje têm alta densidade na floresta, foram plantadas pelos indígenas. Em anos, elas foram criando variedades de uma espécie. Existem mais de 700 variedades de mandioca e mais de 1,3 mil de cacau. Isso é resultado da seleção humana. As mulheres plantavam as sementes das plantas mais resistentes, observavam quais eram os alimentos mais resistentes. Isso é uma ciência indígena, aplicada na prática a partir da observação.

A ideia que estamos levando para a Amazônia é ter o Instituto de Tecnologia da Amazônia, o AmIT. O nome não é acidental: ele faz referência ao do MIT em inglês; mas falamos “amiti”, que se assemelha à palavra amigo em italiano. A gente tinha em mente fazer o Instituto como “amigos da Amazônia”.
Queremos criar um instituto pan-amazônico, já estamos fazendo estudo de viabilidade. Temos parceria com cientistas da Colômbia, do Peru, do Equador e da Bolívia. Serão vários centros de formação, de graduação, pós-graduação e pesquisa, com laboratórios supermodernos. No momento, estamos começando o estudo de como trazer o conhecimento dos indígenas, das comunidades locais e ribeirinhas para dentro do AmIT.
Queremos ter alunos e professores indígenas, líderes de comunidades e locais. Teremos no AmIT esse espaço desafiador de trazer os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais, trazer a ciência mais moderna padrão MIT lá na Amazônia. Não é para trazer soluções de fora da Amazônia, as soluções serão buscadas dentro da Amazônia.

Desde o início, estamos desenhando o instituto para ter parcerias público-privadas, não ser apenas uma instituição de ensino avançado, mas também ter os chamados pólos de inovação, os inovations hubs. Há potencial para criar inúmeras startups com o conhecimento e a biodiversidade que há na Amazônia. Os inovations hubs são formatos que deram certo em vários países, como Coreia do Sul e China.
Estamos convidando cinco cientistas indígenas.Não são cientistas que pesquisam sobre indígenas, e sim cientistas indígenas. Também haverá mulheres líderes de comunidades locais. Vamos fazer estudos sobre como trazer conhecimentos dos povos originários e mesclar com a ciência moderna.
Queremos dar a formação para que a comunidade amazônica possa aprender como desenvolver a sociobioeconomia. Um dos nossos projetos é criar laboratórios flutuantes e fixos.
Queremos chegar no nível do MIT, inclusive de formação de estudantes. Mesmo tendo um tamanho inicial pequeno, seria suficiente para trazer a mudança. Formando mil alunos por ano para essa nova bioeconomia, já tem escala para começar.
FC Brasil – Qual startup poderia sair do AmIT? Quais exemplos você imagina saindo desse movimento?
Carlos Nobre – Onde tem a maior biodiversidade do planeta? Na Amazônia. 13% das plantas e animais conhecidos no planeta estão na Amazônia. Hoje se conhece 16 mil espécies de árvores dessa floresta. E existem muitas mais que a ciência não conseguiu identificar. São plantas, animais, microorganismos ainda desconhecidos.
É um milagre e uma sorte imensa que a Amazônia nunca tenha gerado uma pandemia, mas todos os elementos para gerar uma nova pandemia estão lá. O desmatamento e a perturbação do ecossistema poderiam fazer com que vírus em primatas ou em morcegos passassem para humanos.
Quem desenvolveu os primeiros sistemas agroflorestais da Amazônia? Não fomos nós, foram os indígenas.
O sequenciamento genético de espécies da natureza pode mostrar se elas têm potencial para se tornar fármacos ou produtos. Uma startup poderia, por exemplo, desenvolver laboratórios para ir para dentro da Amazônia e fazer sequenciamento genômico de espécies.
No Amazônia 4.0, já desenhamos esse laboratório. Construímos, em parceria com a Escola Politécnica da USP, um sistema de registros blockchain para registrar o sequenciamento genético. Esta poderia ser uma startup.
O potencial é gigante. Seria possível usar o sequenciamento genômico de microorganismos para entender se há risco de novas epidemias e pandemias. Hoje se conhece menos de 200 mil espécies da região. Será preciso ter inúmeras startups para começar a traduzir isso em economia. Estima-se que, a partir de 2030, a indústria ligada a genomas atingirá US$ 1 trilhão por ano.
Além do sequenciamento genômico, tem potencial de achar plantas medicinais. Os indígenas usavam mais de 1,2 mil plantas medicinais.
FC Brasil – Na sua visão, o que temos disponível no que diz respeito à tecnologia para evitar o caos climático, para que o Acordo de Paris seja cumprido e para que o Brasil se torne referência em economia verde?
Carlos Nobre – O Brasil tem um gigantesco potencial de ser o primeiro país de grandes emissões de gás de efeito estufa a zerar esse número. Historicamente, somos o quarto maior emissor do mundo; 84% das emissões vêm do desmatamento e da agricultura e só 16% vêm da queima de combustíveis fósseis.
Nós, de fato, temos toda a condição para sermos os primeiros a zerar as emissões líquidas. Na China, mais de 80% das emissões vem de queima de combustíveis fósseis, tanto que eles se comprometeram a zerar as emissões líquidas até 2060. A Índia também tem quase todas as emissões devido à matriz energética, eles se comprometeram a zerar as emissões em 2070.

No Brasil, mais de 90% dos desmatamentos são ilegais. O governo atual tem o compromisso de zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030. Até lá, podemos reduzir em 50% as emissões.
O desmatamento vem caindo muito na Amazônia no último ano. Estou otimista que este ano o país vai diminuir não menos de 50% do desmatamento em relação a 2022. Não é uma batalha fácil, mas torço para que o Brasil tenha sucesso.
China, Índia e Estados Unidos estão com políticas mais lentas de reduzir a redução de emissão da queima de combustíveis fósseis. Para a gente, o desafio é zerar o desmatamento, mas nós temos chance de conseguir.
FC Brasil – As chuvas no Rio Grande do Sul e no litoral de São Paulo este ano, as ondas de calor na Europa, a frequência das catástrofes climáticas está aumentando. Qual é o risco de caos climático agora?
Carlos Nobre – Temos que reduzir as emissões rápido porque os fatores de incerteza estão aumentando. Nem a ciência previu que, em 2023, teríamos o recorde de temperatura do planeta. Os eventos extremos já vêm aumentando há muitos anos, mas ninguém previu que, em 2023, eles estariam tão violentos.
A onda de calor na Europa de 2022 matou 61 mil pessoas, quase todas acima de 70 anos. A previsão meteorológica conseguiu ver o pico da temperatura na Inglaterra com 10 dias de antecedência, o que significa que os sistemas de adaptação não estão preparados para a resiliência climática, nem em países desenvolvidos.
São riscos absurdamente altos. O Acordo de Paris, renovado na COP-26 na Escócia, coloca que a gente tem que reduzir 50% das emissões de carbono de 2019 a 2030. Em 2022, as emissões aumentaram. Essa redução é o maior desafio que a humanidade já enfrentou.
Infelizmente, muitos começam a defender o overshooting. Isso significa aceitar que a temperatura da Terra vai subir mais de 1,5 ºC até 2030 e atingir alta de 2,3ºC até 2050, e que até lá surgirá tecnologia para reduzir os danos.

Alguns testam soluções para remover o gás carbônico da atmosfera, que são impraticáveis financeiramente. Não dá para ficar esperando até a segunda metade do século para agir.
Se chegarmos a um aumento de 2,3ºC, 150 bilhões de toneladas de gás carbônico do permafrost serão liberadas. O permafrost é uma camada de solo congelado há dezenas de milhões de anos que armazena uma camada abundante de carbono, e também um número incontável de vírus e bactérias.
Essa camada, com o aumento de temperatura atual, de 1,3ºC, já está degelando; com 2,3ºC, vai derreter tudo. Todo o carbono e o metano que estão ali vão para a atmosfera. Isso eleva ainda mais a temperatura, podendo chegar a alta de 3ºC rapidamente.
Além disso, se chegarmos a uma alta de 2,3ºC, vamos perder a Amazônia. Esse é o ponto de não retorno. A Amazônia degradada, em 30 anos, perde no mínimo 250 toneladas de carbono. É um efeito em cadeia, porque já aumentaria a temperatura para quase 4ºC.
FC Brasil – O quão próximo estamos do chamado ponto de não retorno? O que podemos fazer para evitar que a floresta perca a capacidade de se regenerar?
Carlos Nobre – O risco do ponto de não retorno é muito alto agora. Todo o sul da Amazônia está à beira de se tornar um ecossistema degradado a céu aberto, com pouquíssimas árvores e perdendo a capacidade de absorver centenas de bilhões de toneladas de gás carbônico. Seria impossível atingir as metas do Acordo de Paris. Temos que restaurar a floresta. É uma iniciativa que o Brasil precisa liderar. Quase 70% dos desmatamentos no bioma ocorrem na Amazônia brasileira.
Temos quase três milhões de quilômetros quadrados de agricultura e pecuária. Mais de 50% da pastagem da pecuária é área degradada, são quase 300 mil quilômetros quadrados de área degradada. Podemos continuar a ser o quarto maior produtor de alimentos, o segundo maior exportador de alimentos do mundo usando muito menos área da Amazônia e do Cerrado.
se chegarmos a uma alta de 2,3ºC, vamos perder a Amazônia. Esse é o ponto de não retorno. E a Amazônia degradada, em 30 anos, perde no mínimo 250 toneladas de carbono.
A produtividade da pecuária brasileira é baixíssima, de uma a duas cabeças de gado por hectare em todo o Brasil. É um número que pode triplicar. Muitas fazendas praticam a pecuária regenerativa, que é mais produtiva, traz de três a quatro cabeças de gado por hectare.
A pecuária regenerativa cria uma maneira de plantar a pastagem que aumenta a quantidade de carbono que o solo absorve, o que consegue compensar as emissões de metano dos bois. É uma pecuária mais lucrativa, melhora economicamente e reduz demais a área para a criação de gado.
O Brasil pode reduzir em 50% a área da pecuária e manter a mesma produção de hoje. Isso liberaria 80 milhões de hectares de biomas e, com isso, seríamos o país com o maior projeto de restauração florestal, removeria mais de um bilhão de toneladas de CO2 por ano.
FC Brasil – A produção alimentar agrícola também passa por mudanças tecnológicas. Que tipo de inovação o Brasil poderia trazer para acelerar ainda mais a migração para a agricultura regenerativa?
Carlos Nobre – A implantação de cultura urbana e agricultura periurbana. Isso começa a crescer no mundo. Em Manhattan, usaram um prédio inteiro para produzir vegetais em uma horta que funciona 365 dias por ano, porque o sol entra pelo vidro, em um sistema de estufa. Uma produção mais moderna, sem agrotóxicos, e que já está ali, na ilha de Manhattan, ao lado dos supermercados e mercados pequenos. É algo que está acontecendo na China também.
O Brasil pode reduzir em 50% a área da pecuária e manter a mesma produção de hoje. Isso liberaria 80 milhões de hectares de biomas.
Só para dar um número: a Holanda utiliza 20 mil quilômetros quadrados para a agricultura, área 20 vezes menor do que o Brasil, e é o segundo maior exportador global de produtos agrícolas. Em receita, a Holanda já ultrapassa o Brasil no quesito exportação.
Eles são os maiores exportadores de tomate do mundo. São frutos produzidos em fazendas verticais, que usam tecnologia e pouquíssima intervenção ambiental. Os produtores são recompensados com a inovação: 85% das fazendas holandesas são de agricultores familiares, com fazendas de tamanho médio de 15 hectares, pequenas e produtivas.
Por lá, todos os agricultores são de classe média. No Brasil, a maioria também é de fazendas familiares, mas os agricultores não têm esse rendimento, são em média da classe C e D. Inovações tecnológicas na agricultura regenerativa são essenciais para o Brasil continuar a ser um grande fornecedor de alimentos.
FC Brasil – O AmIT fará parte da produção de um novo modelo de economia. Qual a sua expectativa para o futuro?
Carlos Nobre – Esse é o último projeto da minha carreira. Prometi para a minha esposa que esse seria o último. Não sou jovem, mas quero, em menos de 10 anos, já ter o AmIT implantado, funcionando e começando a formar estudantes e startups.