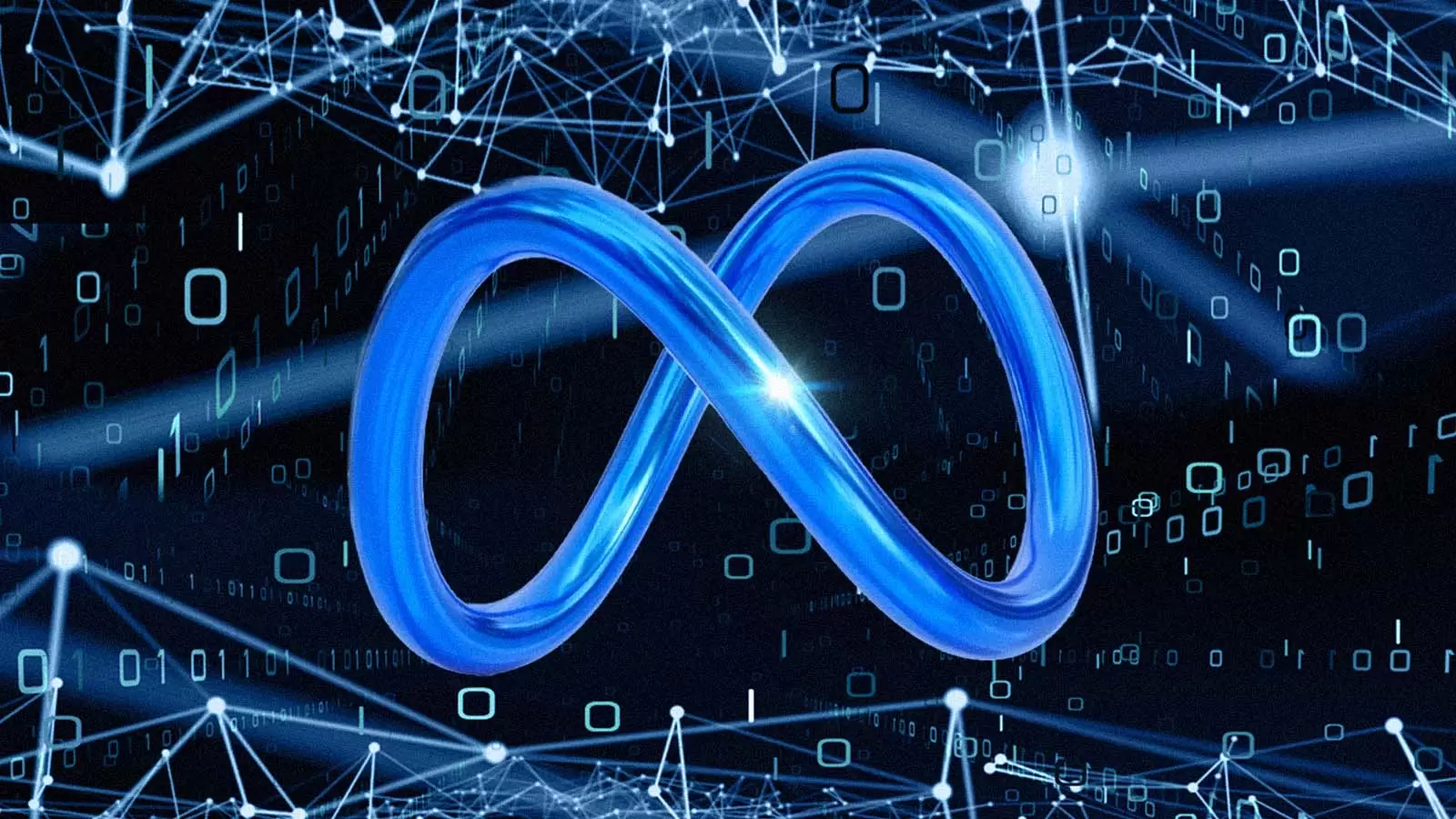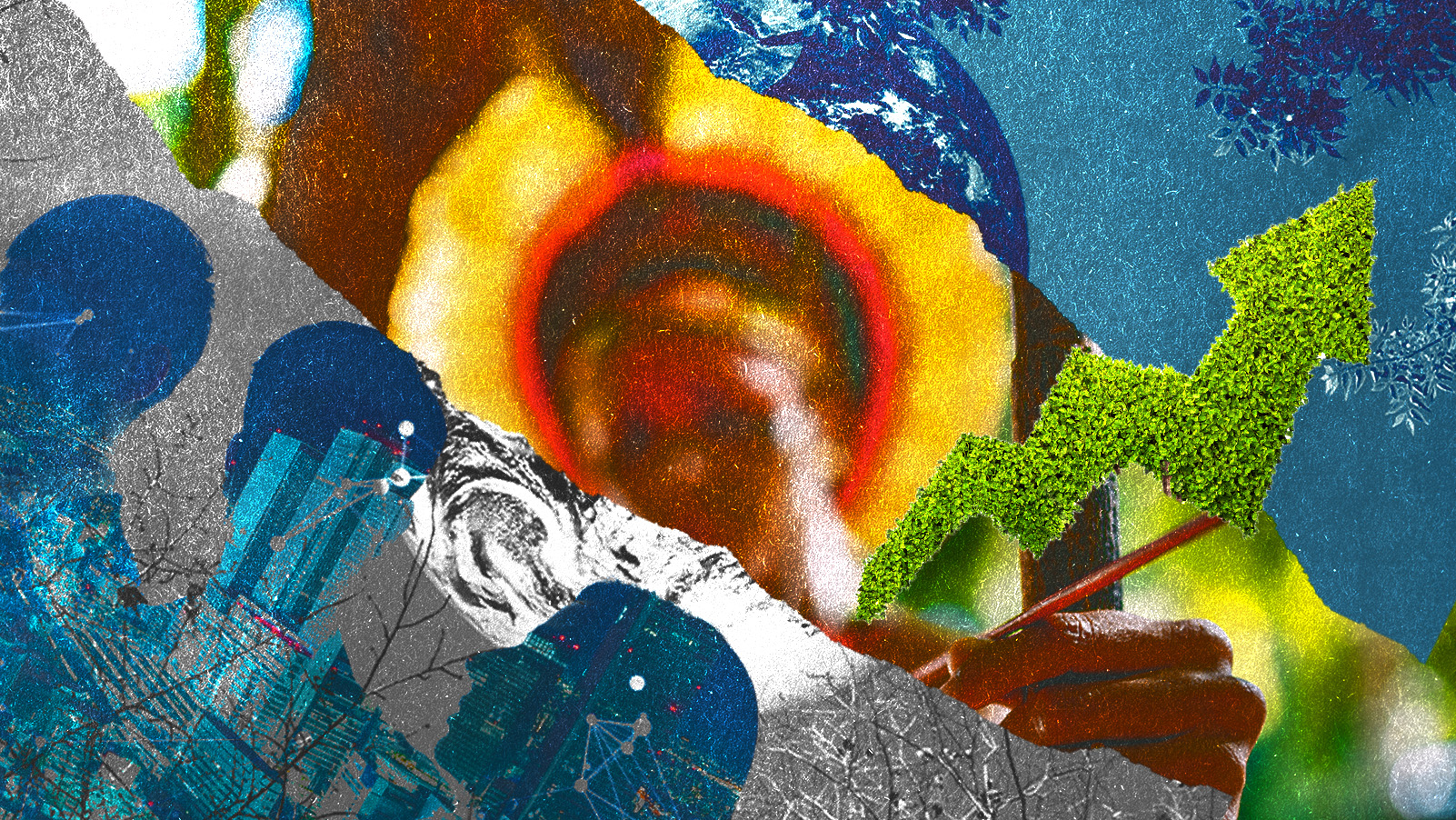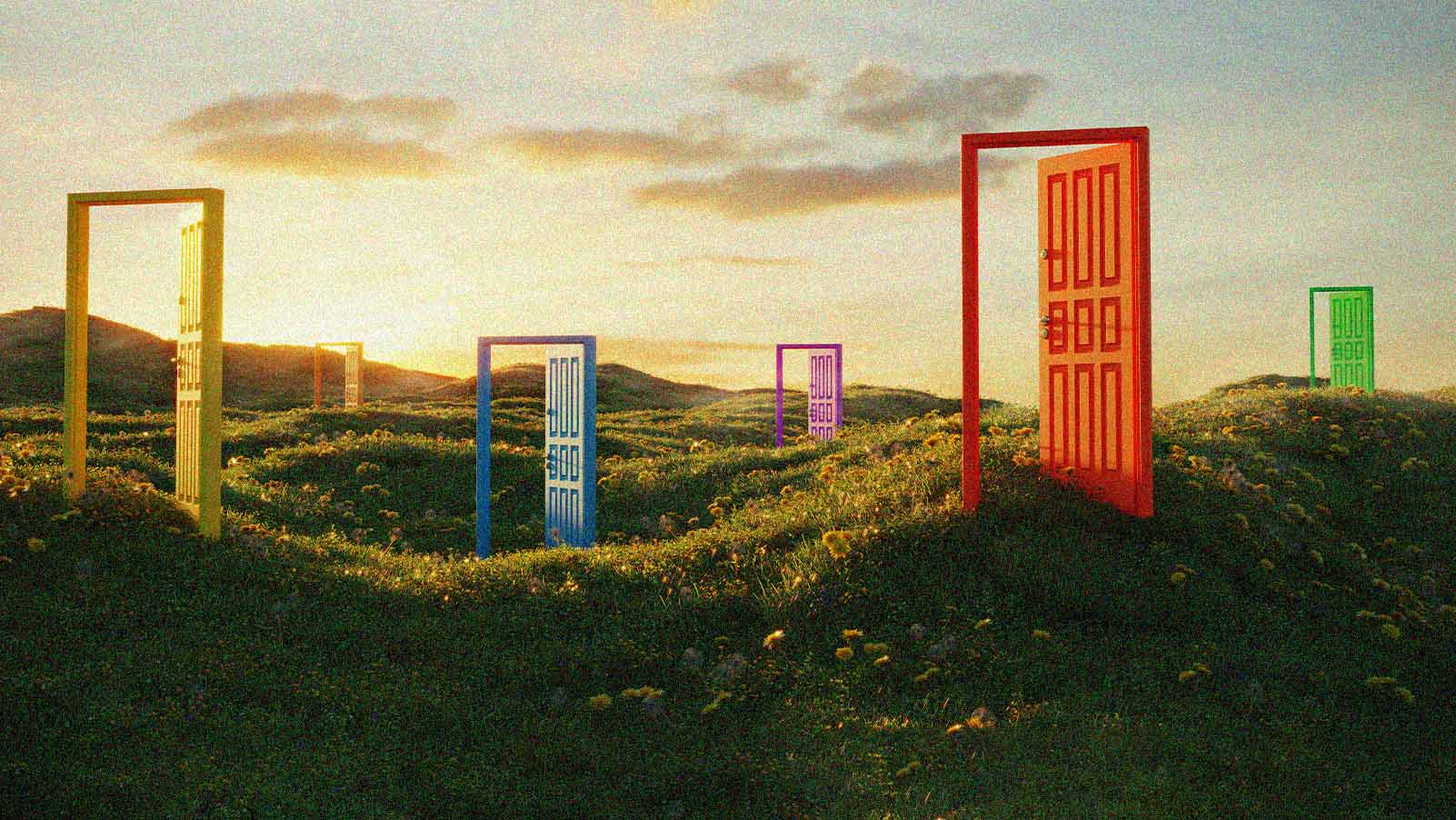Chief Happiness Officer – a utopia da saúde mental como meta
O verdadeiro desafio das empresas não é promover felicidade, mas sim remover os fatores que destroem a possibilidade do bem-estar

Tenho pensado muito sobre como tudo virou produto. A vida foi convertida em experiência de consumo e agora a saúde mental segue pelo mesmo caminho. Eu mesma já paguei caro por essa lógica. Em 2016, tive um burnout tentando entrar em um fluxo que não era o meu, forçando meu cérebro a operar dentro de um ritmo que nunca fez sentido para mim.
Como neurotípica, meu tempo é outro – minha forma de processar o mundo exige pausas, respiros, um espaço que não cabe na produtividade frenética que tantas empresas exigem. Levei anos para entender que meu valor não está em acompanhar um ciclo exaustivo, mas em construir um ritmo que sustente quem eu sou sem me destruir no caminho.
E então, depois dessa compreensão individual sobre o meu tempo, tive um filho. E olhar para ele me faz enxergar o tempo de outra forma. Bebês e crianças vivem o presente em estado puro, sem a ansiedade de otimizar minutos, sem a pressa de chegar antes de saber para onde.
Mas nós, adultos, atravessamos o tempo de forma violenta – exigindo que o corpo e a mente superem a própria capacidade humana, tratando o descanso como fraqueza, a pausa como improdutiva. Percebo, vendo meu filho crescer, o quanto passamos pela vida como quem corre dentro de um trem em movimento, como se fosse possível acelerar algo que já se move sozinho.
Mas a conta desse ritmo sempre chega, e não adianta comprar mais uma ferramenta de organização ou mais um aplicativo de mindfulness se continuarmos insistindo em um sistema que nos pede o impossível.
Basta abrir qualquer rede social para ver um bombardeio de aplicativos de meditação, cursos de “autocuidado produtivo” e terapias instantâneas, como se bem-estar fosse algo que se compra por assinatura.
Há um discurso sedutor de que cuidar da mente é um ato individual, acessível a quem estiver disposto a pagar o preço certo. Mas o que acontece quando esse preço é inacessível para a maioria?
as empresas precisam encarar a saúde mental como uma questão de responsabilidade social.
A resposta está nos números: o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo, segundo a OMS. Mais de 19 milhões de brasileiros convivem com transtornos de ansiedade e os casos de depressão cresceram 35% entre 2020 e 2023. Mas esses números não afetam a todos da mesma forma.
Um estudo da Fiocruz mostrou que pessoas negras e indígenas têm uma incidência significativamente maior de sofrimento psíquico, reflexo da sobrecarga social e do racismo estrutural. Mesmo assim, o debate dominante sobre saúde mental ignora os fatores sociais e estruturais que adoecem essas pessoas.
O problema é que, ao transformar a saúde mental em mercadoria, ignoramos o fato de que ela é, antes de tudo, um direito. E se é um direito, há deveres que precisam ser cumpridos.
ATUALIZAÇÃO DA NR-1
O novo texto da NR 1 (Norma Regulamentadora nº 1), que entra em vigor a partir de 26 de maio, obriga as empresas a adotar medidas concretas para prevenir riscos psicossociais no trabalho.
Isso significa que bem-estar não pode ser tratado como um “benefício corporativo”, como se fosse um café premium na copa ou um espaço instagramável para pausas. Trata-se de uma obrigação empresarial de mitigar riscos, de evitar o adoecimento dos trabalhadores e, principalmente, de enfrentar as causas estruturais do problema.
E aqui entra a questão racial. Dados do IBGE mostram que trabalhadores negros estão mais expostos a jornadas exaustivas, menores salários e ambientes de trabalho hostis. São essas condições que destroem a saúde mental, e não a falta de “inteligência emocional” ou “resiliência”.
No entanto, a maioria dos programas de saúde mental oferecidos pelas empresas se limita a intervenções individuais, como sessões de mindfulness ou descontos em terapia, sem tocar nas desigualdades que adoecem de forma desproporcional determinados grupos.

Se as empresas realmente querem cumprir seu papel, precisam encarar a saúde mental como uma questão de responsabilidade social e não do departamento da felicidade.
Isso significa rever cargas horárias desumanas, coibir assédio moral e racismo institucional e garantir que lideranças negras tenham espaço de fato – porque autonomia e segurança psicológica também são determinantes da saúde mental.
Não faz sentido colocar felicidade e saúde mental como metas. Transformá-las em objetivo mensurável dentro de um sistema produtivo apenas reforça a lógica da exaustão que nos trouxe até aqui. A ideia de que podemos atingir a saúde mental da mesma forma que batemos uma meta de vendas ou entregamos um projeto no prazo é, no mínimo, contraditória.
estudo da Fiocruz mostra que pessoas negras e indígenas têm uma incidência maior de sofrimento psíquico.
O que esse discurso ignora é que o próprio esforço para “ser feliz” dentro desse modelo nos empurra para ainda mais ansiedade, culpa e frustração. Afinal, se a felicidade é uma meta, então quem não a alcança está falhando – e a solução oferecida será, claro, mais um produto, mais uma técnica, mais uma demanda sobre um corpo e uma mente já sobrecarregados.
A saúde mental não é um KPI. Ela não pode ser comprimida em planilhas, nem alcançada por meio de incentivos vazios. O verdadeiro desafio das empresas não é promover felicidade, mas sim remover os fatores que destroem a possibilidade do bem-estar: jornadas exaustivas, assédio moral, desigualdade estrutural, falta de autonomia.
A única maneira real de cuidar da saúde mental é criar condições para que as pessoas possam simplesmente existir sem serem esmagadas pelo ritmo impossível de um mundo que lucra com a sua exaustão.
SAÚDE MENTAL NÃO É MERCADORIA
O futuro se constrói nas escolhas que fazemos agora. Se aceitarmos que saúde mental é mais um produto na prateleira, estamos assinando um contrato silencioso com um amanhã onde o adoecimento será apenas um efeito colateral do sistema. A chegada da inteligência artificial não torna essa discussão obsoleta, pelo contrário: ela a torna urgente.
A IA nos força a um ritmo impossível, acelerando a obsolescência de funções, substituindo trabalhadores, criando novos padrões de produtividade que ignoram os limites humanos. O mercado celebra o aumento da eficiência, mas ignora o esgotamento emocional de quem tenta acompanhar máquinas que não precisam de descanso. A pergunta é: para onde estamos indo?
Se continuarmos no caminho atual, o cenário é previsível. Trabalhadores exaustos serão responsabilizados por seu próprio colapso. Empresas continuarão lucrando com soluções paliativas para um problema que elas mesmas intensificam.

E a desigualdade, já brutal, se aprofundará ainda mais, porque quem pode pagar pelo luxo do equilíbrio emocional seguirá no controle, enquanto o resto apenas sobrevive.
Mas o futuro não está escrito. Ele é consequência das escolhas do agora. As empresas que hoje encaram a saúde mental como custo terão que lidar com a inevitabilidade de um mercado em colapso, no qual trabalhadores adoecidos não produzem, onde talentos se recusam a permanecer em ambientes tóxicos.
Há outra rota possível. Um caminho onde a saúde mental não seja privilégio, mas estrutura. Onde o avanço tecnológico seja um aliado do bem-estar, e não uma ferramenta de exaustão. Onde a responsabilidade não seja confundida com marketing. Esse futuro não acontecerá por acaso. Ele exige decisões concretas no presente.
A saúde mental não pode ser mercadoria. E quem insiste em vendê-la como tal precisa se perguntar: qual é o real custo desse negócio?